«Tinha trinta e quatro anos e estava sem casa, deitado sem dormir, noite dentro, num sofá-cama nojento, numa cave arrendada, a ouvir os meus senhorios a mijar e cagar enquanto a minha ex-mulher e o meu ex-chefe faziam o sessenta e nove na minha cabeça. O fundo do poço viera ao meu encontro.»
Judd tem, segundo os padrões mais ou menos comuns, uma vida aparentemente normal: uma esposa que ama, uma família de relacionamentos algo disfuncionais, um trabalho que o satisfaz e todo um futuro imenso pela frente.
Subitamente tudo se desmorona quando, na iminência de perder o Pai para um cancro terminal, surpreende a sua mulher em plena acção sexual com o seu chefe. A situação termina com um bolo de aniversário e algumas velas enfiadas em locais menos próprios.
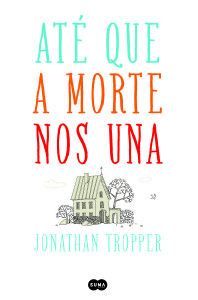 A partir daqui e depois de cumprir o “Shivá” (período de luto judaico), um ultimo desejo de seu Pai que obrigou à reunião de toda a família durante os sete dias em que consiste a tradição, Judd sente que o chão lhe foge debaixo dos pés, perdido entre o convívio forçado com os irmãos – que raramente vê – e o desabar das pedras basilares em que havia assente toda a sua vida, tal como a conhecia até então.
A partir daqui e depois de cumprir o “Shivá” (período de luto judaico), um ultimo desejo de seu Pai que obrigou à reunião de toda a família durante os sete dias em que consiste a tradição, Judd sente que o chão lhe foge debaixo dos pés, perdido entre o convívio forçado com os irmãos – que raramente vê – e o desabar das pedras basilares em que havia assente toda a sua vida, tal como a conhecia até então.
Jonathan Tropper é uma estrela emergente da ficção Norte-Americana, sendo esta a sua terceira obra com adaptação cinematográfica, claramente no género “Hollywoodesco” do drama/comédia.
Isso, porém, não invalida (de todo) a leitura de “Até que a morte nos una” (Suma de Letras, 2015) que, num estilo sarcástico e irónico, revela como podem ser perturbantes as ligações entre membros da mesma família, ou como, de forma mais ou menos difícil, alguém que bate no fundo pode reerguer-se e reconstruir a vida a partir de níveis próximos do zero. O humor e o amor com que o autor nos conduz, até final, dão-nos a mão, não a largando até à última linha.











Sem Comentários