Aos dez anos de idade, a criança de sexo masculino a quem todos chamam Raúl já tem duas certezas que sempre a acompanharão: primeiro, sabe que o seu verdadeiro nome é Cassandra – como a princesa troiana dos poemas de Homero, amaldiçoada com o dom de prever um futuro que não podia alterar e no qual mais ninguém acreditava; segundo, sabe que morrerá cedo, assassinada aos dezanove anos, na terra seca e vermelha de Angola, muito longe da sua pátria cubana, onde também nasceu Marcial Gala, autor deste belíssimo livro intitulado “Chamem-me Cassandra” (Quetzal, 2023), já premiado pelo Instituto Cervantes.
Num texto onde o lirismo predominante torna mais dolorosos os momentos de linguagem crua e as múltiplas formas de brutalidade com que o mundo ataca aqueles que se desviam da norma, as memórias e as visões da protagonista fluem como as ondas das praias onde a narrativa começa e acaba, sobrepondo diferentes planos da sua realidade, transcendendo distâncias geográficas e cruzando passado, presente e futuro. Através do seu olhar, que identifica deuses e fantasmas entre gente de carne e osso, acompanhamos o quotidiano de uma família em desagregação na Cuba dos anos 1970, marcada pela disseminação da censura e da perseguição política e religiosa. “Agora somos todos marxistas-leninistas e os deuses não existem”, responde a mãe, quando a pequena Cassandra anuncia ter visto a deusa Atena. Anos mais tarde, na escola, será afastada das oficinas de literatura, porque os seus poemas não se enquadram na corrente estética prescrita pelo regime. Apesar de tudo, a jovem gostaria de ingressar na universidade para satisfazer a sua paixão pelas letras, mas deixa-se recrutar para as Forças Armadas Revolucionárias – incumbidas de “implementar o marxismo-leninismo e acabar com a exploração colonial” – e parte ao encontro da morte, acreditando que o destino de cada um está definido, tal como a queda de Tróia estava marcada “como que a ferro nas costas do tempo”.
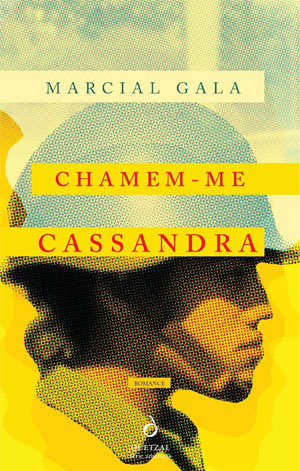
Em Angola, onde aguardam os deuses do Velho Mundo, chegará no corpo de um soldado pequeno e frágil, que parece uma rapariga. Aí verá outros servirem de carne para canhão, cabendo-lhe redigir as cartas às mães dos mortos, enquanto suporta os abusos do capitão, até chegar o momento de enfrentar “a flamígera roda das transmutações”.
É provável que esta perspectiva pré-determinista seja tão opressiva para alguns leitores quanto libertadora para outros. Não teremos liberdade para explorar as possibilidades que Cassandra sabe estarem contempladas em “todos os mundos paralelos e infinitos”? Não passaremos, em cada um deles, de figuras numa tela que os deuses nunca acabam de pintar, como intui a protagonista? São questões complexas que brotam de um texto estranhamente fácil de ler, o qual talvez contenha, na sua própria estrutura, um conselho precioso: ainda que o início e o fim sejam anunciados, somos atraídos pela descoberta de tudo o que pode acontecer pelo meio.











Sem Comentários