No que toca a frases de abertura, o mais recente livro de Dulce Maria Cardoso – a primeira parte de um romance em dois actos – bate a concorrência aos pontos: “Eu sou eu e o Salazar que se foda”.
“Eliete” (Tinta da China, 2018) apresenta-nos a uma mulher de meia-idade, profundamente infeliz, que carrega às costas uma infância da qual nunca se conseguiu libertar, incapaz de cortar o cordão umbilical que a liga à mãe – a quem considera vulgar -, insatisfeita com o marido – “uma simplificação grosseira e preguiçosa de si mesmo” – e vivendo com a filha uma relação que não vai além do sustento material.
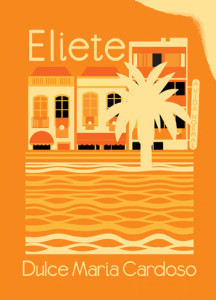 Uma mulher que vive numa introspecção permanente, com a culpa e o medo a devorá-la às dentadas, recordando os tempos em que “a menstruação era um assunto de mulheres como os bordados, a culinária e a lida da casa, um assunto falado em surdina que determinava uma série de proibições”, ou o regresso ao lar materno, o último lugar onde desejou estar: “A casa da mamã guardava tudo o que eu não quis ser, e que ironicamente acabei por ser”. Um mundo onde a culpa é sempre das mulheres, ou não tivesse sido Eva a brincar com a maçã errada.
Uma mulher que vive numa introspecção permanente, com a culpa e o medo a devorá-la às dentadas, recordando os tempos em que “a menstruação era um assunto de mulheres como os bordados, a culinária e a lida da casa, um assunto falado em surdina que determinava uma série de proibições”, ou o regresso ao lar materno, o último lugar onde desejou estar: “A casa da mamã guardava tudo o que eu não quis ser, e que ironicamente acabei por ser”. Um mundo onde a culpa é sempre das mulheres, ou não tivesse sido Eva a brincar com a maçã errada.
A salvação – ou pelo menos uma cura momentânea para a letargia – parece estar nas redes sociais, primeiro passo dado para recuperar o passado, pensar o presente e viver o futuro em estado alucinatório, algures entre o facebook e o Tinder, este último um lugar onde é “fácil identificar tipos, mas quase impossível encontrar um indivíduo”.
“Eliete” revela-se uma radiografia de uma família, do mundo, da liberdade individual e do pensamento não revelado, que se movimenta no terreno firme e ao mesmo tempo movediço das memórias individuais, com personagens de carne e osso apenas ao alcance dos grandes mestres. Ao chegar à última frase, apetece recriá-la e perguntar aos que virão a seguir: Não te vais apagar agora, pois não, caro leitor? Cinco estrelas.











Sem Comentários