“Gostava de ter sido actor“. Quem o diz é Carlos Vaz Marques no prefácio do sétimo número da Granta (Tinta da China, 2016) portuguesa, dedicada por inteiro ao Teatro e ao estar no Palco. E, se pensarmos bem, quem nunca terá sentido o desejo de, ainda que movido pelo medo ou pela vergonha, pisar o palco ou um set de filmagens, encarnando uma outra figura humana e vestindo uma pele que não a sua? “O que não temos dentro de nós experimentamo-lo por empréstimo” – ainda do prefácio -, e a verdade é que esta edição, que tem Shakespeare como patrono, permite ao leitor levar de emprestado peles várias, fazendo da literatura um lugar habitado por máscaras.
Dos contos que compõem esta edição, muitos estão entregues a autores com fortes ligações ao teatro. As ilustrações são de Danuta Wojciechowska e o ensaio fotográfico, intitulado “Chamei pelo teu nome”, é da autoria de Augusto Brázio. Mas voltemos aos contos, nesta edição que está seguramente entre as três mais entusiasmantes da Granta vestida de vermelho e verde.
Um psicólogo pica-miolos, em devaneios sobre noções e departamentos onde se esconde a felicidade que obriga uma paciente a dizer qualquer coisa como isto: “Foda-se, pá! Estou perdida? Para que serve esta psicoterapia parva, já agora?” Em “Elvis hasn’t left the stage” – de Abel Barros Baptista -, damos de caras com um psicólogo que fala bem mais do que os pacientes, alguém para quem a felicidade é algo de inalcançável. Um conto onde se passeiam dois palermas a discutir metáforas, para lá de um outro que se dedica a lançar para o ar quotation reliefs onde cabem Henry Fielding, Diderot ou Platão. A pergunta que fica a marinar só poderia ser mesmo esta: o mundo é um palco?
Tiago Rodrigues assina “Quando em meu mudo e doce pensamento“, um brilhante exercício de contornos auto-biográficos (?) que começa na soleira da porta de George Steiner. Um conto belíssimo que tem como banda-sonora a leitura do soneto 30 de Shakespeare, um elogio à memória e que faz um jogo de cadeiras entre Pasternak, Bradbury e o próprio Steiner. Um conto onde se fala da arte de decorar e da leitura partilhada como a forma mais profunda de publicação, das recordações como a mais bela das essências humanas e da memória como o substituto do amor. “Os poemas não têm fim”. Amén.
“Tudo o que eu disser e fizer poderá ser usado contra mim.” É este o lema de vida de Antoine, cineasta, irmão de um outro António que morreu à nascença. Em “Antes da revolução“, Teresa Veiga faz desfilar uma galeria de personagens tomadas pela melancolia: a narradora, que vive com a mãe adoptiva – Alexandrina – e que diz ter crescido livre “como um animal doméstico“; o Dr. Passos, um homem que só admite o vício do tabaco, que bebe na intimidade – a sua – e que gosta de escrever poesia, apesar de detestar intelectuais pedantes; Alexandrina, que em tempos escreveu uma recriação de Romeu e Julieta – uma relação entre uma branca e uma mestiça com 23 anos de diferença – e que vive agora presa a uma vida com muito de etiqueta e nada de sobressalto. Um conto sobre encontrar “o eixo da própria vida” que sustenta cada um de nós.
De Julian Barnes surge publicado “Encurralar. Dominar. Foder”, os três vértices pelos quais se devem orientar os mais implacáveis jogadores de xadrez. A partir de um confronto entre Nigel Short e Kasparov, Barnes fala do xadrez como uma mistura de violência e de intelecto, tentando contrariar frases feitas como esta: “Os cépticos defendem que assistir a xadrez ao vivo é tão arrebatador como ver tinta a secar. Os ultra-cépticos respondem: isso é injusto para a tinta.”
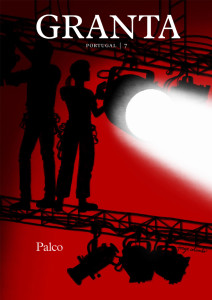 Mas há mais, muito mais: Mathias Énard – em “O instante da passagem” – traz-nos um narrador que “dormia num barracão por trás da empresa, um recanto cheio de ferramentas e de frascos de herbicida que cheirava a combustível de cortador de relva” e que, a partir das sete da tarde, “ficava a sós com os caixões“; Luísa Costa Gomes – “Spike Milligan e a ilha deserta” – escreve um ensaio inconsciente, salpicado de risos insonoros e que abre caminho à verdadeira entrevista; Vítor Nogueira – “Barbearia” – brinca aos franceses e põe em cima da mesa uma estranha proposta de um barbeiro de bairro: em troca de mil euros, o cliente poderá cortar a barba sempre que quiser até ao final dos seus dias – ou dos dias do barbeiro; Pico Iyer – “A beleza do artifício” – convida o leitor para um casamento em Tóquio que tem, como banda-sonora, uma playlist que vai dos Bon Jovi aos Metallica, num conto que retrata a encenação emocional como o mote para uma vida mais feliz; Joseph O’ Neill – “A ascensão do homem” – é o autor do conto mais violento, onde a partir do homem-tartaruga, “um auto-intitulado naturalista por conta própria“, encena crimes à catanada e se debruça sobre o tema da pena de morte; Alan Hollinghurst – “Realces” – conta-nos a incrível história de um gigolô que vai sobrevivendo sem nunca ter de – ou conseguir – consumar o acto; Filipa Melo – “Um presépio sem Natal” – embarca numa viagem pelas relações dos casais com filhos e das histórias familiares a partir da morte de uma avó; Patrícia Portela – “A via láctea de Tintoretto” – regressa aos tempos em que se podia “apontar levianamente o dedo a uma leviandade“, mostrando o nascimento de Hércules – antes Alcides – que terá começado numa “festarola numa paróquia terrestre“. E que mostra um deus que é agora um “zombie por terras seculares” que se gosta de ver a si próprio como um “Clark Kent às avessas“; Jacinto Lucas Pires – “Ensaio aberto” – promove um novo olhar sobre o teatro a partir de um cruzamento entre “amizade, amor, carreira e vocação“, tocando nessa fantástica e perigosa situação de se estar vivo; para rematar e em jeito de grande penalidade, Harold Pinter – “Notas sobre Shakespeare” – fala ao leitor das feridas abertas mas que nunca se rompem, que o patrono deixou à imensa enfermaria a que chamamos mundo. Cortina fechada, venha de lá a próxima Granta.
Mas há mais, muito mais: Mathias Énard – em “O instante da passagem” – traz-nos um narrador que “dormia num barracão por trás da empresa, um recanto cheio de ferramentas e de frascos de herbicida que cheirava a combustível de cortador de relva” e que, a partir das sete da tarde, “ficava a sós com os caixões“; Luísa Costa Gomes – “Spike Milligan e a ilha deserta” – escreve um ensaio inconsciente, salpicado de risos insonoros e que abre caminho à verdadeira entrevista; Vítor Nogueira – “Barbearia” – brinca aos franceses e põe em cima da mesa uma estranha proposta de um barbeiro de bairro: em troca de mil euros, o cliente poderá cortar a barba sempre que quiser até ao final dos seus dias – ou dos dias do barbeiro; Pico Iyer – “A beleza do artifício” – convida o leitor para um casamento em Tóquio que tem, como banda-sonora, uma playlist que vai dos Bon Jovi aos Metallica, num conto que retrata a encenação emocional como o mote para uma vida mais feliz; Joseph O’ Neill – “A ascensão do homem” – é o autor do conto mais violento, onde a partir do homem-tartaruga, “um auto-intitulado naturalista por conta própria“, encena crimes à catanada e se debruça sobre o tema da pena de morte; Alan Hollinghurst – “Realces” – conta-nos a incrível história de um gigolô que vai sobrevivendo sem nunca ter de – ou conseguir – consumar o acto; Filipa Melo – “Um presépio sem Natal” – embarca numa viagem pelas relações dos casais com filhos e das histórias familiares a partir da morte de uma avó; Patrícia Portela – “A via láctea de Tintoretto” – regressa aos tempos em que se podia “apontar levianamente o dedo a uma leviandade“, mostrando o nascimento de Hércules – antes Alcides – que terá começado numa “festarola numa paróquia terrestre“. E que mostra um deus que é agora um “zombie por terras seculares” que se gosta de ver a si próprio como um “Clark Kent às avessas“; Jacinto Lucas Pires – “Ensaio aberto” – promove um novo olhar sobre o teatro a partir de um cruzamento entre “amizade, amor, carreira e vocação“, tocando nessa fantástica e perigosa situação de se estar vivo; para rematar e em jeito de grande penalidade, Harold Pinter – “Notas sobre Shakespeare” – fala ao leitor das feridas abertas mas que nunca se rompem, que o patrono deixou à imensa enfermaria a que chamamos mundo. Cortina fechada, venha de lá a próxima Granta.

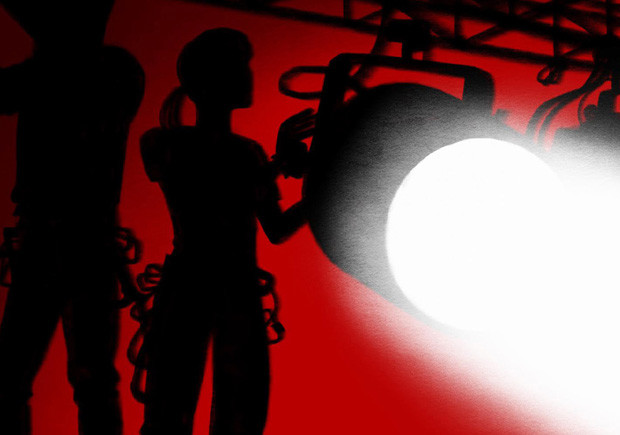









Sem Comentários