Nascido em 1974, Nuno Costa Santos não é propriamente um novato no mundo da escrita, ainda que “Céu Nublado com Boas Abertas” (Quetzal, 2016), o seu primeiro romance, tenha chegado às livrarias apenas este ano. O percurso tem sido feito de livros de poesia ou contos, crónicas avulsas, aventuras bloguianas, programas radiofónicos e televisivos, o que faz deste primeiro livro uma estreia com muito embalo.
A partir de um livro do avô que encontrou numa estante como “um soldado esquecido”, Nuno Costa Santos ficcionou a história de um homem que regressa à sua terra para cumprir uma missão literária, atribuída sem destino específico mas com muita crença pelo seu avô morto: a recolha de histórias recentes da ilha de São Miguel, lá nos indescritíveis Açores. Um livro feito de histórias e tempos cruzados, de personagens que se confundem e fundem, atravessado por muitas referências literárias e uma banda-sonora de eleição. O Deus Me Livro esteve à conversa com Nuno Costa Santos na última edição das Correntes d`Escritas.
Quanto de ti passou para a personagem principal do livro, que regressa aos Açores para cumprir uma herança literária passada pelo avô?
Passou bastante, por um motivo. Ao dialogar com o livro de um avô que se expôs muito, a única forma de ser minimamente leal com esse projecto, de dialogar com esse livro, era eu próprio me jogar bastante como narrador/personagem/protagonista. O livro que encontrei é escrito na primeira pessoa e a viagem é feita na primeira pessoa. E as características da personagem têm muito a ver comigo, ainda que não seja eu. É mais velho, por exemplo, há pormenores, pequenos truques, ilusionismos que fazem parte do jogo da literatura. Mas respondendo à tua pergunta levei muito de mim para dentro do livro: do meu crescimento, da minha adolescência, das minhas opções, dos meus humores, dos meus ressentimentos e dos autores que fui lendo.
O livro tem algumas semelhanças estéticas com as obras de Sebald, desde o tom confessional – quase em forma de diário -, à inclusão de fotografias ou à utilização de muitas citações. Será este seu primeiro romance, também ele, um livro de memórias tocado pela magia da ficção? E que tenta fazer da memória arte, essa “inutilidade suprema” de que se fala ao cair do pano?
O Sebald bastante, mas também o Olivier Rolin do “BaKu”, por exemplo, livro editado pela Sextante e que tem também este lado marcado para a morte, de viagem, um livro que também usa fotografias. Assumo essa herança. Eu escrevo – e isto pode parecer um pouco arrogante – aquilo que gostaria de ler. Podia ter feito um livro mais convencional sob o ponto de vista da arquitectura, pegando na história dos meus avós, um casal que nos anos 40 do século passado é obrigado a separar-se por causa da tuberculose, e que ficam separados durante quatro anos e, ao fim de seis, o elemento masculino do casal tem de tirar um pulmão. Tudo isto dava um romance clássico, uma história de amor. Mas achei que tinha muito mais a ver comigo este diálogo com o livro, comigo próprio, esta espécie de livro do desassossego.
A certa altura lê-se isto: “Admiro nos homens não a valentia mas a capacidade diária de se esquecerem que um dia vão morrer”. Qual é a tua relação com a morte, e de que forma está esta presente na tua vivência?
Há quem diga que os poetas – no sentido genérico do termo – têm, desde muito cedo, uma consciência aguda da própria mortalidade. Eu lembro-me perfeitamente de quando comecei a pensar na morte. Antes disso tinha aquela ideia de que sempre que havia um problema terreno haveria sempre um depois, uma solução – muitas vezes encontrada pelos meus pais -, mas depois de me deparar com a morte comecei a sentir uma certa angústia. Sou uma pessoa muito vulnerável ao mundo, algo que tem tanto de bom como de mau. A parte má é ter essa consciência da sombra, é estar aqui num ambiente porreiro, com esta música, mas poder haver uma imagem que me remeta para a ideia de que vamos todos morrer, que isto vai ser tudo destruído, e que nem este edifício que é tão sólido vai sobreviver. A arte é uma forma de tentar resolver isso.
Pegando nas tuas palavras, “porque é que alguém que tem tudo para acreditar no divino não sente fé?” E não será esta, afinal, algo que todos nós buscamos, como o próprio João Pereira da Costa, que na Cova da Iria acabou por encontrar nada mais que “a pior das clausuras”?
Absolutamente. Aqui nas Correntes nota-se muito isso, há a crença na literatura. Há aqui pessoas que têm uma relação quase religiosa com a literatura, como se fosse um território no qual se pudesse acreditar. Eu tenho essa crença mas também a tendência para questioná-la, sabotá-la, para desconfiar dela. No lado especificamente religioso não fui baptizado, mas a minha mãe ensinou-me a rezar. Havia um pedido final que fazia sempre, que era “Deus faça com que não haja guerras nem tremores de terra”. Estamos todos à procura disso, mesmo os não crentes têm de ter alguma crença. Agora estamos a viver uma era de pequenas crenças, mundanas, como a gastronomia, o gourmet. Se me perguntares qual é a minha, é esta: a possibilidade de viver instantes de felicidade aqui na terra com os meus, com a minha comunidade, e tentar ser o mais solidário com as comunidades que estão distantes da minha. Tenho essa crença na solidariedade.
No livro, o protagonista diz ter trocado o surf pelas páginas irregulares de Artaud, Bréton ou Holderlin. Mais à frente fala-se de Ferreira de Castro, Alves Redol, Pessoa, Sá-Carneiro, Borges Kafka ou Joyce. São estas as influências ou, pelo menos, as tuas preferências no que diz respeito à literatura?
Falaste aí de uma mistura de referências minhas e do meu avô. Esses escritores neo-realistas foram muito absorvidos pelo meu avô, e foram eles que o sintonizaram muito para o sentimento de desigualdade social, que havia na terra onde morava, uma sociedade rural muito estratificada e pobre. No meu caso esses escritores iniciais, sobretudo Holderlin, Artaud, Breton, foram os que li em cima dos rochedos, em Rabo de Peixe, enquanto alguns dos meus amigos surfavam. Diverti-me, também fiz os meus tubos mas nas páginas da literatura. E acabávamos todos a beber uma imperial. Ou um fino como se diz aqui.
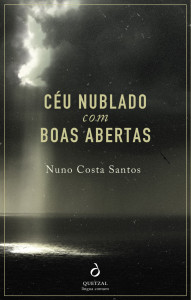 No que toca a música, há também uma diversificada banda sonora que vai de composições ao piano e Pink Floyd a sonoridades mais atrevidas como as dos My Bloody Valentine ou dos Jesus & Mary Chain. É esta também parte da banda sonora da tua vida?
No que toca a música, há também uma diversificada banda sonora que vai de composições ao piano e Pink Floyd a sonoridades mais atrevidas como as dos My Bloody Valentine ou dos Jesus & Mary Chain. É esta também parte da banda sonora da tua vida?
Estou sempre a ouvir música. Ainda agora descobri uma banda de Manchester que me está a fascinar chamada Money, meio baladeira. Mas sim, os My Bloody Valentine fizeram parte da minha adolescência. Lembro-me de ter uma gravação em cassete que emprestei a um amigo que me disse que aquilo devia estar mal gravado. Também Jesus & Mary Chain, The Cure – muito – Joy Division, Bauhaus, B-52`s, mas coisas muito diversas como Meredith Monk, Michael Nyman, Wim Mertens, Miles Davis, Prince, muito daquele catálogo da 4AD, claro, que condiz na perfeição com a paisagem açoriana: como Cocteau Twins, Dead Can Dance, The Moon and The Melodies. Toda a minha vida insular foi cruzada pela música, e até já fiz um filme com amigos em que vou aos Açores buscar os discos que lá deixei, e que passam pelos Pixies, Stones Roses, Inspiral Carpets, Charlatans, nunca mais saía aqui. Mas vejo os discos como uma espécie de catálogo de amigos. A música para mim é tão importante como a literatura, só que nunca seria capaz de ser músico.
Será a vida isto mesmo, um “Céu Nublado com Boas Abertas”?
Acho que sim. A felicidade deste título tem a ver com isso. De se aplicar à meteorologia açoriana e muito à vida do meu avô. Céu muito nebulado, doença, sofrimento até ao limite, nervosismo, raiva e, depois, com boas abertas: a possibilidade de voltar a estar com a minha avó, de dançar, ler, de ter os filhos, de ser gerente bancário, de conseguir se reerguer. Acho que no fundo a vida de todos nós é isto.














Sem Comentários