Uma intriga familiar, um desaparecimento misterioso, uma rede de amizades que se estende pelo tempo e pelo espaço, o percurso de vida de uma mulher de espírito livre e memórias de uma adolescência em tempos de agitação política e social. Com todas estas linhas se tece “A Irmandade Invisível” (Oficina do Livro, 2024), o mais recente romance de Joana Leitão de Barros (ler crítica), que nesta entrevista nos fala, entre outras coisas, das origens desta obra, de velhos e novos radicalismos, e das memórias do ambiente invulgar de “um colégio raro e à frente do seu tempo”.

A protagonista de “A Irmandade Invisível” tinha 12 anos em 1975, durante o PREC, e confessa que nem ela, nem o seu grupo de colegas do colégio prestaram atenção a certos eventos políticos dessa época. Quais os eventos da nossa actualidade que não estão a receber atenção suficiente, na sua opinião? No caso dos jovens, como compara a sensibilidade política dos da década de 1970 com os de hoje?
Falo de um grupo muito claro para mim – aquele colégio, aquelas alunas adolescentes, aquelas freiras. Muitos dos pais das alunas pensavam que era possível travar o tempo e os acontecimentos, dentro dos portões do colégio. Uma ilusão como qualquer outra. Seria uma espécie de bolha aquela em que vivíamos, mas era uma bolha permeável, inteligente e progressista, ao contrário do que se esperava. O desinteresse pela política não era generalizado. Fazia parte de Vera, a narradora. Vê o caos do país como sendo deles, dos adultos. E, por isso mesmo, desinteressante. Nesta atitude, existe pouca fidelidade aos valores dos pais, tão cedo assim se faz a ruptura. Durante muito tempo, espantavam-me os amigos, um ou dois anos mais velhos do que eu, que tinham acompanhado com nitidez e consciência o PREC, tanto pelo lado dos esquerdistas mais radicais como da resistência à Revolução. E isso vinha-me tentando, o apelo a voltar a olhar para esse ambiente, tentar perceber. Se esse passado faz de mim uma ave rara, então que seja uma valente. Na altura tudo era luta política, a ideologia separava pessoas e famílias. A classe de origem definia-nos. E aos 12 anos já se entende a injustiça. Nos liceus, os rapazes, nossos amigos, envolviam-se em grandes cenas de pancadaria, a rivalidade partidária era violenta. Temos de estar num dos lados, estamos condenados a escolher um dos lados e a espezinhar o outro. Talvez possa ser feito um paralelismo entre essa altura e o radicalismo e o discurso de ódio que está a crescer nas escolas, que são de novo um lugar de confronto e violência, com a radicalização das narrativas. O radicalismo durante o PREC é tão idiota e assustador como o dos novos populismos de direita. Mas o contexto é muito diferente. Pais centrados nos filhos, a influência descontrolada das redes sociais, um outro mundo.
Faz uma referência, no livro, ao arquivo do Colégio do Sagrado Coração de Maria, bem como à escassez de documentação e correspondência desse período. Como decorreu a pesquisa envolvida na escrita desta obra? Descobriu algo que a tenha surpreendido durante o processo de investigação?
A actual direcção do colégio, laica em larga maioria, abriu-me as portas do Arquivo, sem restrições. Infelizmente, como pude confirmar, não existe muita documentação relativa a esse período. Penso que muito não ficava escrito, passava-se em conversas informais. A investigação sobre o colégio, incluiu muitas conversas com ex-alunas, algumas mais velhas, professoras e religiosas. Li um sem número de vezes a acta da reunião que reproduzia a carta da Irmã Helena Neto, a religiosa julgada no Processo das FP25, defendendo a compatibilidade entre o seu activismo político extremista e o seu lugar num Instituto Religioso católico. Interrogo-me ainda hoje se seria tão manipuladora quanto ingénua – era admirada pelas alunas e muito amada na Congregação. A surpresa de perceber que, dois anos antes da revolução, o sumário de Moral já dava conta da abordagem de temas de educação sexual. Foi um colégio raro e à frente do seu tempo, influenciado por experiências pedagógicas internacionais, vindas de outros colégios da Congregação, sobretudo do Canadá e Estados Unidos.
O que diria a quem se surpreende ao saber, que no referido colégio, ensinavam freiras cujas convicções políticas de esquerda levavam algumas a defenderem a luta armada?
Um grupo de mulheres coeso e autónomo, de diferentes sensibilidades, inserido numa organização transnacional, que controla a sua empresa e tem em mãos uma missão ambiciosa, movidas pela Fé e vontade de Evangelizar e construir um mundo melhor. Vejo-as assim. Foram casos pontuais, o das religiosas que defendiam a luta armada e se moviam em círculos próximos dos padres operários.
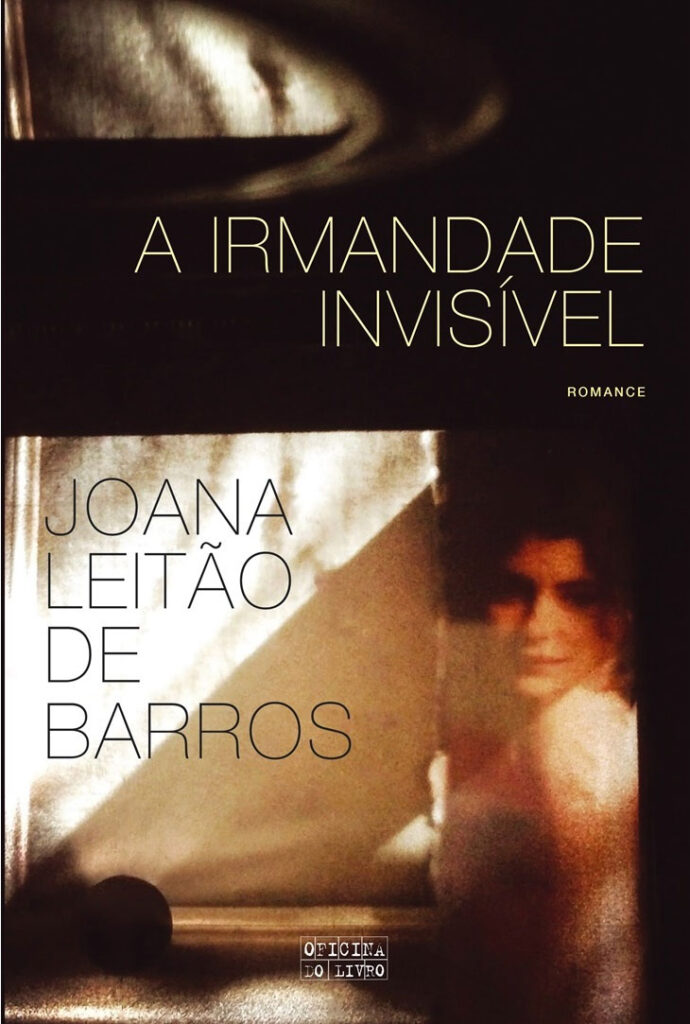
A narrativa parece ser o resultado de três linhas que se cruzam: a transformação de um país, um mistério policial e o percurso de vida de uma mulher. Qual lhe ocorreu primeiro e como se produziram os cruzamentos com as outras?
Vivi na casa onde uma outra família se abateu sobre si mesma, numa implosão terrível. Um atentado à vida de um irmão, a que se juntou um misterioso desaparecimento. Essa história viveu comigo, talvez por nunca ter conhecido desfecho. Quis escrever sobre a competição e rivalidade entre irmãos, sobre o andar em círculo à volta de dinâmicas familiares nos moldam. Não estou certa de o ter feito. A jovem mulher desaparecida estudara num colégio religioso feminino, que não o Sagrado Coração de Maria, mas isso dava-me a oportunidade de retratar a o colégio de que fui aluna, voltar a esse ambiente invulgar. E, por outro lado, interessavam-me o fim dos anos 70, a década de 80, a libertação que mudou a vida das mulheres. O colégio é o começo de um fervilhar que vai transbordar.
Quais os pontos de contacto entre o percurso desta protagonista e a sua própria biografia?
Penso que o livro se aproxima de uma geração, o que pode resultar em que pareça autobiográfico. Não sou fotógrafa mas já desapareci umas tantas vezes, todas nós o fazemos, até um dia.
Enquanto fotógrafa, a protagonista exprime o seguinte: “Uma imagem resulta do que vemos, de pensamento e de viagens. De livros e filmes, de pessoas e impressões frequentemente vagas. É feita de acertos e reformulações sem fim”. A este propósito, uma primeira pergunta é se também é adepta da fotografia. A segunda é se aplicaria as mesmas ideias à literatura (e, nesse caso, que alterações faria a este excerto.
Uma boa pergunta. Algo de semelhante se passará com a escrita, penso que sim. Talvez que escrevamos sempre o mesmo livro. Mas na escrita queremos que caiba o desmedido, não há acerto suficiente.
Ainda acerca do trabalho fotográfico, a sua protagonista afirma “O retrato é ainda um espelho onde encontro partes que me fazem falta”. Até que ponto procura partes de si nas personagens que retrata?
Acho que esta ideia da falta leva-nos ao outro, é essencial. Não implica privação, isso é uma outra coisa.
–











Sem Comentários