Em 2014, a poesia portuguesa viu girar “um carrossel de imagens vivas em poemas sem regras, colocados em cima da mesa, escritos com toda a liberdade e ousadia e, em alguns momentos, transformados em prosa”. Palavras que por essa altura dedicámos a “Jóquei”, a estreia abençoada de Matilde Campilho, um livro com um pé em Portugal e outro no Brasil. Ambos descalços, para sentir com a pele nua toda a impulsividade, amor e desejo de versos que poderiam facilmente transformar-se em canções.
Seis anos depois, o regresso de Matilde Campilho aos livros faz-se com “Flecha” (Tinta da China, 2020) e, uma vez mais, o resultado é surpreendente, qualquer coisa como um híbrido entre a poesia e a prosa que, mesmo não sendo um romance, contém em si todos os romances do mundo.
E que flecha é esta, capaz de atravessar o tempo entre o real e a ficção, a religião e a mitologia, entre personagens de carne e osso e outras que a literatura viu nascer? Uma flecha composta por “narrativas que foram surgindo um dia depois do outro, às vezes durante a tarde, outras logo pela manhã, e a maioria delas quando a noite já havia caído. Talvez o escuro seja mais propício às histórias. Seja como for, todas quiseram chegar-se à luz. Nem que fosse por um segundo. Umas chegaram-se tanto que passaram a ser, elas mesmas, a candeia que iluminou uma noite inteira”.
Viajar nestas páginas é sentir a fragilidade geográfica e emocional, experienciar a morte sem perder a esperança, procurar a vingança com o perdão no bolso da camisa, fazer um manguito à censura e levar o espírito de resistência às cavalitas. Há pessoas de carne e osso como Carmen Miranda, que “ajeita um pouco para a direita o abacaxi falso que há mais de duas horas carrega sobre a cabeça”. Ou heróis religiosos como Jonas, que vai retirando algas uma a uma da cabeça para descobrir, depois de tanto trabalho, que a caverna onde habita é na verdade um bicho, “um que nada agora para sempre para longe dele”.
 Deliramos com uma falha num dente que eterniza a brincadeira e confere um ar sexy. Visitamos uma aldeia que assiste ao milagre da sétima arte projectado num enorme lençol branco. Conhecemos uma família que janta em círculo junto de uma braseira. Assistimos ao espectáculo de um mágico destro, que usa a mão esquerda para fazer magia.
Deliramos com uma falha num dente que eterniza a brincadeira e confere um ar sexy. Visitamos uma aldeia que assiste ao milagre da sétima arte projectado num enorme lençol branco. Conhecemos uma família que janta em círculo junto de uma braseira. Assistimos ao espectáculo de um mágico destro, que usa a mão esquerda para fazer magia.
Os parágrafos estão entre o sumo de um telegrama e os enigmas dissimulados em mensagens de guerra e paz, convidando o leitor a entrar num mundo que pertence às histórias, ao poder da oralidade, a uma vida em comunidade onde o que resta, no final, são as memórias. Aquela flecha que une o princípio a um fim sempre em movimento, onde, “entre o sono e a vida, um dia de cada vez, caminhando sobre a caruma, vamos escutando e contando as histórias. Uns aos outros, a nós mesmos, e àqueles que vêm depois de nós”. Matilde “Tell” Campilho acertou outra vez no alvo.


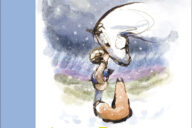








Sem Comentários