Homicida demente. Misógino. Racista. Homofóbico. Mata cães. Finge que vai dar esmola a sem-abrigos, mas ao invés manda-os masé trabalhar. É possível nutrir alguma simpatia por Patrick Bateman, ou torcer pelos seus feitos condenáveis? A resposta rápida é: sim, mesmo que não chegue a ser gratificante assim que nos vemos imersos em passagens cruéis e aberrantes. O romance mais controverso de Bret Easton Ellis (o escritor-fenómeno de “Menos que Zero”, irreverente, cáustico e a figura mais célebre da pandilha “literary Brat Pack”), Psicopata Americano (Marcador, 2016) é um marco sórdido na literatura americana, logo, um vício de leitura em potência para eventuais interessados.
A lei é a fluidez com que os olhos percorrem a página, a um ritmo atlético. Livro feito sobretudo de diálogos e descrições muitas vezes parcas e, regra geral, obsessivas, em que Bateman parece ter decorado todas as peças de roupa de catálogos de moda de luxo, “Psicopata Americano” é também uma exploração limítrofe da liberdade de expressão. Ellis arriscou tanto, que na altura foi rejeitado pela primeira editora que abordou. Sobreviveu à ira dos movimentos feministas que protestavam contra as descrições dos homicídios das personagens femininas unidimensionais, fúteis quando abriam a boca, proferindo tudo do mais vazio e estúpido. Sentiu-se menos apegado à borga incessante, que o caracterizava como menino rebelde, graças às ameaças de morte que foi recebendo depois do romance estar publicado e a tornar-se colosso de vendas. Tinha deixado um monstro à solta: Patrick Bateman e a América que este representava.
O melhor exemplo de humor negro (uma corrente, diga-se, com discípulos miseráveis em Portugal) é aquele que provoca o riso ao mesmo tempo que nos faz duvidar da nossa própria integridade moral. Assumir culpa por isso é fechar qualquer válvula de escape que ainda reste no cérebro humano, das que equilibram toda uma tiragem com defeito de fábrica – não vale tudo, mas se for para valer, é bom que se retire algo mais da piada que uma ofensa brejeira, e nisso Ellis é bem sucedido.
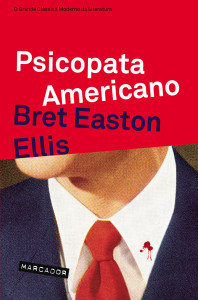 Se pensarmos “Psicopata Americano” a fundo, temos mais que as descrições secas de loucura, vaidade, arrogância, sexo desligado de qualquer paixão e violência gratuita. Temos mais que uma lista interminável de marcas de luxo e música que sempre julgamos ser foleira até Bateman nos fazer perceber que as fases mais geniais das carreiras dos artistas dão-se quando se vendem por completo à indústria. A fundo, fica-nos a paródia da era Reagan, o endeusar dos magnatas de Wall Street e Nova Iorque (Bateman idolatra Trump; hoje, parte da América ainda idolatra Trump; qualquer semelhança na proximidade ideológica e cultural não é coincidência), uma geração saída da Ivy League, tornando-se cada vez mais podre de rica, não sabendo bem o que fazer com tanto dinheiro (os tais yuppies tão fáceis de odiar). Ou seja, é oportuno editar “Psicopata Americano” este ano, como há uns anos atrás a adaptação cinematográfica foi oportuna (e que não se deixe de ler o livro porque se viu o filme, já que o livro tem um portento superior de sátira e excesso que a adaptação só toca ao de leve), como no próximo ano fará sentido e assim por diante. O assustador da ovelha (mais) negra de Bret Easton Ellis é a intemporalidade do apego que temos ao superficial. É tão parte de nós que a obra acaba por nunca perder esse lado sedutor, como se o autor e o romance estivessem a encantar serpentes. Nem a repulsa sentida pela violência de extremos inimagináveis nos tira a vontade de descobrir até onde vai Patrick Bateman.
Se pensarmos “Psicopata Americano” a fundo, temos mais que as descrições secas de loucura, vaidade, arrogância, sexo desligado de qualquer paixão e violência gratuita. Temos mais que uma lista interminável de marcas de luxo e música que sempre julgamos ser foleira até Bateman nos fazer perceber que as fases mais geniais das carreiras dos artistas dão-se quando se vendem por completo à indústria. A fundo, fica-nos a paródia da era Reagan, o endeusar dos magnatas de Wall Street e Nova Iorque (Bateman idolatra Trump; hoje, parte da América ainda idolatra Trump; qualquer semelhança na proximidade ideológica e cultural não é coincidência), uma geração saída da Ivy League, tornando-se cada vez mais podre de rica, não sabendo bem o que fazer com tanto dinheiro (os tais yuppies tão fáceis de odiar). Ou seja, é oportuno editar “Psicopata Americano” este ano, como há uns anos atrás a adaptação cinematográfica foi oportuna (e que não se deixe de ler o livro porque se viu o filme, já que o livro tem um portento superior de sátira e excesso que a adaptação só toca ao de leve), como no próximo ano fará sentido e assim por diante. O assustador da ovelha (mais) negra de Bret Easton Ellis é a intemporalidade do apego que temos ao superficial. É tão parte de nós que a obra acaba por nunca perder esse lado sedutor, como se o autor e o romance estivessem a encantar serpentes. Nem a repulsa sentida pela violência de extremos inimagináveis nos tira a vontade de descobrir até onde vai Patrick Bateman.
Em suma, o apelo fruto proibido é o mais apetecido poderá ser trunfo para escoar exemplares, mas se passarmos da película de literatura de aeroporto que cobre o livro, apercebemo-nos que há mais competência em Ellis que as descrições exaustivas de pronto-a-vestir e os diálogos corriqueiros de mentecaptos ricos. Há também uma capacidade exímia, enquanto autor, de se desligar de si mesmo e do que acredita, pelo menos do que diz que acredita quando fala em público.
Nota final de apreço ao trabalho do tradutor Hugo Gonçalves, que também assina uma análise crítica nas páginas finais, um belo complemento que cobre os pontos mais essenciais e revela-se bem esclarecido da intenção de Ellis, algo que à luz de inúmeras leituras discutíveis desde a primeira edição, é obrigatório.











Sem Comentários