Sofrer ao invés de gozar. Em 1880, partindo desta máxima que segundo ele se tinha tornado a moral da classe burguesa, “cujo egoísmo feroz e a inteligência tacanha encarnou“, Paul Lafargue assinava no Semanário L’Égalité a sua refutação ao direito do trabalho.
Em “O direito à preguiça” (Antígona, 2016), Lafargue aponta a moral capitalista como irmã gémea da cristã, cujo ideal será “reduzir o produtor ao mínimo dos mínimos das necessidades, suprimir as suas alegrias e paixões e condená-lo ao papel de uma máquina que entrega trabalho sem um minuto de descanso“. Ao contrário de um ensaio inocente, este livro pretendia e antevia o nascimento da “sociedade comunista do futuro“, com ou sem recurso à violência: “se possível, pacificamente, senão violentamente“.
Logo a abrir, Lafargue brinda-nos com uma frase de Lessing, que resume na perfeição este ensaio: “Preguicemos em tudo, excepto no amar e no beber, excepto no preguiçar“. Nestas páginas, o trabalho é visto como uma estranha loucura que tomou conta das nações onde reina a civilização capitalista. Algo que, hoje em dia, não será de todo estranho aos países mais a norte do nosso.
Para Lafargue, os malefícios do trabalho são muito claros: “Na sociedade capitalista o trabalho é a causa de toda a degenerescência intelectual, de toda a deformação orgânica“. Para o autor, foi o próprio proletariado que se pôs a jeito, assumindo “as dores do trabalho forçado” quando, em 1848, reclamou de armas em punho e entregou “as mulheres e os filhos aos barões da indústria“.
A partir do momento em que o trabalho fabril é introduzido no meio de uma população rural, Lafargue diz que será tempo de dizer adeus à “alegria, saúde, liberdade; adeus a tudo o que torna a vida bela e digna de ser vivida“.
Os tempos de Lafargue eram os da pós Revolução Francesa e dos turnos que variavam entre as 12 e as 15 horas. Mas o que propunha então Lafargue ao proletariado para combater a escravidão laboral e recuperar o direito à preguiça? Qualquer coisa como isto: “Que ele se obrigue a não trabalhar mais de três horas por dia, e a preguiçar e a folgazar durante o reto do dia e da noite“. Por aqui, assinamos por baixo.
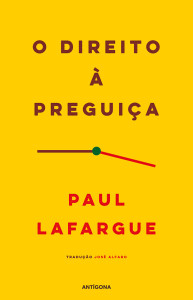 Lafargue aborda de seguida as consequências da sobreprodução, bem como a concorrência absurda e mortífera entre o homem e a máquina, arranjando forma de definir uma época onde predominava o incessante barulho de homens e máquinas: “A nossa época será chamada a Idade da Falsificação, tal como as primeiras épocas da humanidade receberam os nomes de Idade da Pedra, Idade do Bronze, devido ao carácter da sua produção”.
Lafargue aborda de seguida as consequências da sobreprodução, bem como a concorrência absurda e mortífera entre o homem e a máquina, arranjando forma de definir uma época onde predominava o incessante barulho de homens e máquinas: “A nossa época será chamada a Idade da Falsificação, tal como as primeiras épocas da humanidade receberam os nomes de Idade da Pedra, Idade do Bronze, devido ao carácter da sua produção”.
A defesa do racionamento do trabalho é feita em nome da sanidade e de se poder viver o melhor da vida: “Embrutecidos pelos seus vícios, os operários não conseguiram compreender que, para haver trabalho para todos, seria preciso racioná-lo como água num navio em perigo“. Há, contudo, um grande elogio às máquinas, que se bem usadas libertariam o homem para o que é realmente importante. Um grande ensaio que, 126 anos depois, vê de alguma forma recuperada a sua pertinência.
“O sonho de Aristóteles é a nossa realidade. As nossas máquinas, animadas pelo fogo, com membros de aço, infatigáveis, com maravilhosa fecundidade, inesgotável, cumprem docilmente por si próprias o trabalho sagrado; e, no entanto, o génio dos grandes filósofos do capitalismo continua dominado pelo preconceito do salariado, a pior das escravaturas. Ainda não compreendemos que a máquina é o redentor da humanidade, o Deus que resgatará o homem das sordidae artes e do trabalho assalariado, o Deus que lhe dará tempo livre e a liberdade.“











Sem Comentários