O aviso chega logo no primeiro de quatro curtos, cerebrais e pouco emotivos textos sobre aquilo que iremos encontrar em “O Cânone” (Tinta da China, 2020), um livro com aa espessura da bíblia, publicado em capa dura e que conta com António M. Feijó, João R. Figueiredo e Miguel Tamen como editores: “Como este livro não é um repositório exaustivo, não vale a pena procurar nele o cânone da literatura portuguesa. Não é boa ideia lê-lo como um guia neutro para a história da literatura portuguesa, ou como uma comemoração política das suas maravilhas. Este não é um livro sobre o esplendor de Portugal, é um livro de crítica literária”. É, aliás, um livro sobre o cânone, uma definição que ao longo das eras tem gerado um aceso e permanente motivo de discussão, muito ao estilo “o meu cânone é melhor do que o teu”.
São cerca de cinquenta os autores incluídos nesta lista, todos autores mortos – há apenas uma excepção – e com dois deles, Fernando Pessoa e Luís de Camões, a terem direito a representações com um certo toque de divergência. Descobrimos autores mais celebrados como Gil Vicente ou Eça de Queirós, mas também outras escolhas menos óbvias, como são os casos do rei Dom Duarte ou de Irene Lisboa.
O estilo global dos textos, com algumas flutuações, vai mais ao encontro de uma edição do Jornal de Letras particularmente séria, e menos na direcção de um relaxado – mas nem por isso menos comprometido – artigo da recomendada publicação brasileira quatrocincoum.
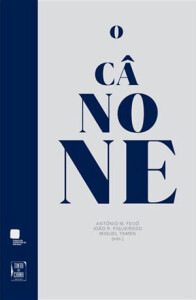 Sobre os Lusíadas de Luís de Camões, João R. Figueiredo aponta-o como “um caso raro de audácia experimental na literatura europeia, uma daquelas obras que redefinem os limites do género a que pertencem, ao ponto de o deixar irreconhecível”, que estará longe daquilo que tem vindo a ser ensinado nas escolas: “…são uma veemente condenação da guerra e dos desmandos dos poderosos, da brutalização de inocentes e da intolerância religiosa e cultural”; destacando a originalidade dos heterónimos, António M. Feijó diz-nos que “a literatura de Pessoa é um confronto reiterado da ansiedade que é a estrutura elementar da consciência de si”; num dos textos mais arejados, Pedro Mexia refere-se a Agustina Bessa-Luís com a escritora que preencheu “todos esses significados de «desaforo»”, isto no sentido de “tirar a alguém os foros ou os privilégios”, e que escrevia com uma “objectiva subjectividade”; João R. Figueiredo fala de Alexandre Herculano como o liberal que via no socialismo o inimigo público nº 1, mas que criou nos livros protagonistas que “não deixam de ser, no essencial, heróis românticos”; Alexandre O`Neill, segundo Joana Meirim, quis ser “um poeta do mínimo, sem aparato”, tendo sido o poeta da desimportização com um toque extra de auto-depreciação; Isabel Almeida destaca o “compromisso entre engenho e acutilância” dos sermões do Padre António Vieira, nos quais “o discurso, em todos os seus prodígios, exprime com eficácia e destemor uma visão do mundo, um propósito de agir”, algures entre a figura do pregador e o de uma “figura autoral”, que “dolorosamente sentiu os desencontros entre querer e poder”.
Sobre os Lusíadas de Luís de Camões, João R. Figueiredo aponta-o como “um caso raro de audácia experimental na literatura europeia, uma daquelas obras que redefinem os limites do género a que pertencem, ao ponto de o deixar irreconhecível”, que estará longe daquilo que tem vindo a ser ensinado nas escolas: “…são uma veemente condenação da guerra e dos desmandos dos poderosos, da brutalização de inocentes e da intolerância religiosa e cultural”; destacando a originalidade dos heterónimos, António M. Feijó diz-nos que “a literatura de Pessoa é um confronto reiterado da ansiedade que é a estrutura elementar da consciência de si”; num dos textos mais arejados, Pedro Mexia refere-se a Agustina Bessa-Luís com a escritora que preencheu “todos esses significados de «desaforo»”, isto no sentido de “tirar a alguém os foros ou os privilégios”, e que escrevia com uma “objectiva subjectividade”; João R. Figueiredo fala de Alexandre Herculano como o liberal que via no socialismo o inimigo público nº 1, mas que criou nos livros protagonistas que “não deixam de ser, no essencial, heróis românticos”; Alexandre O`Neill, segundo Joana Meirim, quis ser “um poeta do mínimo, sem aparato”, tendo sido o poeta da desimportização com um toque extra de auto-depreciação; Isabel Almeida destaca o “compromisso entre engenho e acutilância” dos sermões do Padre António Vieira, nos quais “o discurso, em todos os seus prodígios, exprime com eficácia e destemor uma visão do mundo, um propósito de agir”, algures entre a figura do pregador e o de uma “figura autoral”, que “dolorosamente sentiu os desencontros entre querer e poder”.
Recusando a etiqueta de dicionário, enciclopédia ou mesmo de guia neutro, “O Cânone” convida o leitor a pensar sobre a literatura portuguesa e, quem sabe, a desenhar o seu próprio cânone, num exercício de retiradas e acrescentos. O consenso, afinal, nunca foi coisa boa.











Sem Comentários