Se há coisa que George Orwell não era, usando um desaforo popular como menos de insulto e mais de gozão, seria certamente “um menino”. Nascido na Índia Britânica – mais concretamente em Motihari – no ano de 1903 como Eric Arthur Blair, Orwell foi escritor, jornalista e ensaísta, crítico férreo do estalinismo e de todos os regimes totalitários – que veio a denunciar de formas bem distintas em “A Quinta dos Animais” e “Mil Novecentos e Oitenta e Quatro” -, combatendo voluntariamente do lado republicano durante a Guerra Civil Espanhola – que veio a contar em “Homenagem à Catalunha” – ou, no caso deste “O Caminho Para Wigan Pier” (Antígona, 2021), contando a história de sobrevivência de uma comunidade mineira acorrentada ao desemprego e a trabalhos inumanos, tendo experienciado no corpinho aquilo por que passava esta gente, vivendo entre eles e descendo às catacumbas da sua existência mental e física.
O livro começou a desenhar-se em 1936, quando os socialistas do Left Book Club lhe encomendaram uma reportagem sobre as condições de trabalho dos mineiros ingleses. Orwell aceitou o repto, cumprindo a missão com distinção mas dando por completo a volta ao texto. Dividindo o livro em duas metades, expõe na primeira as condições degradantes em que estava mergulhada esta comunidade, enquanto que na segunda deixa de lado as teorias políticas, recusa a trincheira ideológica e, assumindo o conforto de ter nascido na classe média, mostra como as distinções de classe são, elas próprias, alimentadas pelas forças revolucionárias que dizem pretendem acabar com elas. Em suma e no meio de muitos paradoxos, promoveu um enaltecimento da classe operária, fez uma crítica ao socialismo inglês e ergueu um manguito ao intelectualismo de esquerda. Uma surpresa que fez com que só muito a custo e com muito nariz torcido o livro acabasse por ser publicado, sem direito a revisão enquanto Orwell se encontrava em Espanha.
“No dia em que vi um penico cheio debaixo da mesa do pequeno-almoço, decidi ir-me embora”. Está longe de ser glamoroso o retrato que Orwell faz desta comunidade mineira, onde ilustra a sujidade, os maus cheiros, a comida intragável e a “sensação de podridão estagnada e sem sentido” que encontrou, questionando o que afinal tinha trazido a industrialização e o chamado mundo moderno. Orwell mergulha no mundo da classe operária, sem qualquer necessidade de glorificação e à boleia de um olfacto apurado, que mostra também o seu desprezo pela miséria humana: “É uma espécie de obrigação ver e cheirar esses lugares de vez em quando, para não nos esquecermos de que existem; embora talvez seja melhor não ficarmos muito tempo”.
Ao falar do mineiro, Orwell diz tratar-se de um trabalho para o qual é necessário ter “o corpo de um jovem e uma constituição de soldado da Guarda Real”, descrevendo as dificuldades físicas, o desgaste mental, o elevado grau de perigosidade, as doenças e as incapacidades, as muitas baixas e mortes associadas à profissão, “as profundas diferenças com que as pessoas são tratadas de acordo com o seu estatuto social”. Denuncia a crise de habitação das zonas industriais onde, ao facto de as casas serem pequenas, feias, sem condições sanitárias e sem conforto, “ou por estarem situadas em bairros incrivelmente sujos no meio de fundições eructantes, canais fedorentos e montes de escórias que derramam sobre elas torrentes de fumo sulfatoso”, se junta o facto de não haver casas suficientes para todos, o que leva ao reinado de senhorios sovinas ou a uma chantagem dos muitos intermediários, que são vistas com uma normalidade. Orwell expõe ainda a ideia falsa e demagógica dos políticos, que diziam ir acabar com as barracas como se isso fosse acabar com a pobreza – não ia, claro, sendo a opinião de Orwell sobre a classe governante muito clara: “O que eu sei da nossa classe dominante não me indica que tenha uma grande inteligência”.
Na segunda parte, Orwell começa a preparar o caminho recordando o tempo em que, aos dezasseis ou dezoito anos, era ao mesmo tempo um snobe e um revolucionário, falando da “gente vulgar” como “brutal e repulsiva”, dizendo ter adquirido desde muito cedo os “preconceitos de classe”.
”Para nos libertarmos das diferenças de classe, temos de começar por compreender que imagem apresenta uma classe aos olhos da outra”, diz Orwell a certa altura, acrescentando que “infelizmente não se resolve o problema de classe confraternizando com os vagabundos. Quando muito, livramo-nos de alguns dos nossos próprios preconceitos de classe”. Orwell ganha balanço, afirmando que a diferença de classes é como uma parede de pedra onde se esbarra a todo o momento, desenhando aí a crítica à própria ideia de classe socialista, dizendo que “muitas das opiniões revolucionárias retiram a sua força da convicção secreta de que nada pode ser mudado”.
Já em ponto de rebuçado, Orwell escreve que “abolir as diferenças de classe significa abolir uma parte de nós mesmos”, uma vez que “quase tudo o que penso e faço é resultado dessas mesmas distinções”, dando como exemplo as noções que tem de bem e de mal, de agradável e desagradável, ou mesmo o gosto em matéria de livros, comidas e roupas, maneiras à mesa, tiques de expressão, maneiras à mesa ou mesmo o sentido de honra – no seu caso, “essencialmente conceitos de classe média”. Para que haja mudança, será sempre necessário um certo desconforto: “Porque, para me libertar do espartilho de classe, tenho de suprimir não apenas o meu snobismo particular, mas também a maior parte dos meus gostos e preconceitos. Tenho de me transformar por completo, ao ponto de por fim não me reconhecer como a mesma pessoa. O que está em causa não é apenas a melhoria das condições de vida da classe operária, nem evitar as formas mais estúpidas de snobismo, mas um abandono da total atitude da classe alta e da classe média em relação à vida. E concordar ou não com isto depende de saber até que ponto compreendo o que me é exigido”.
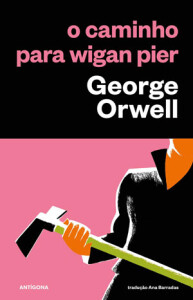 E onde fica, no meio de tudo isto, o socialismo? Pois bem, depois de o apresentar como uma via de saída, que garante “o suficiente para comer, mesmo que nos privasse de tudo o resto”, refere que por aqueles dias o socialismo é vítima de hostilidade e que, “de forma algo paradoxal, para defender o socialismo, temos de começar por o atacar”. Um ataque que surge de todas as direcções, sobretudo dirigido ao socialismo panfletário: “Às vezes olho para um socialista – do tipo intelectual, daqueles que escrevem panfletos, com o seu colete, o seu cabelo despenteado e as suas citações marxianas – e pergunto-me qual será de facto a sua motivação. Às vezes é difícil acreditar que se trate de amor seja por quem for, em especial pela classe operária, da qual não pode estar mais afastado. Creio que a motivação secreta de muitos socialistas é simplesmente um sentido hiperatrofiado da ordem. O actual estado de coisas ofende-os não por causar miséria, e ainda menos por impossibilitar a liberdade, mas por ser caótico; o que querem, basicamente, é reduzir o mundo a algo parecido com um tabuleiro de xadrez”. Não admira que os socialistas tenham ficado a puxar os cabelos em total histeria. Para Orwell, socialismo só pode significar isto: justiça e liberdade. Porém, trata-se de algo que “está quase soterrado sob camadas sucessivas de pedantismo doutrinário, chicanas partidárias e «progressismo» mal digerido, como um diamante oculto debaixo de um monte de estrume”. Um livro onde Orwell mostra todos os paradoxos de que é feito o ser humano, e no qual desenha também um futuro imaginário e utópico onde, mais do que preconceitos de classe, se pudesse instalar um outro mundo, mais fraterno e solidário. O oposto daquilo que escreveu anos depois em “Mil Novecentos e Oitenta e Quatro”, a distopia totalitária por excelência.
E onde fica, no meio de tudo isto, o socialismo? Pois bem, depois de o apresentar como uma via de saída, que garante “o suficiente para comer, mesmo que nos privasse de tudo o resto”, refere que por aqueles dias o socialismo é vítima de hostilidade e que, “de forma algo paradoxal, para defender o socialismo, temos de começar por o atacar”. Um ataque que surge de todas as direcções, sobretudo dirigido ao socialismo panfletário: “Às vezes olho para um socialista – do tipo intelectual, daqueles que escrevem panfletos, com o seu colete, o seu cabelo despenteado e as suas citações marxianas – e pergunto-me qual será de facto a sua motivação. Às vezes é difícil acreditar que se trate de amor seja por quem for, em especial pela classe operária, da qual não pode estar mais afastado. Creio que a motivação secreta de muitos socialistas é simplesmente um sentido hiperatrofiado da ordem. O actual estado de coisas ofende-os não por causar miséria, e ainda menos por impossibilitar a liberdade, mas por ser caótico; o que querem, basicamente, é reduzir o mundo a algo parecido com um tabuleiro de xadrez”. Não admira que os socialistas tenham ficado a puxar os cabelos em total histeria. Para Orwell, socialismo só pode significar isto: justiça e liberdade. Porém, trata-se de algo que “está quase soterrado sob camadas sucessivas de pedantismo doutrinário, chicanas partidárias e «progressismo» mal digerido, como um diamante oculto debaixo de um monte de estrume”. Um livro onde Orwell mostra todos os paradoxos de que é feito o ser humano, e no qual desenha também um futuro imaginário e utópico onde, mais do que preconceitos de classe, se pudesse instalar um outro mundo, mais fraterno e solidário. O oposto daquilo que escreveu anos depois em “Mil Novecentos e Oitenta e Quatro”, a distopia totalitária por excelência.











Sem Comentários