“Fiz mal em comprar este caderno, muito mal”. Assim começa o primeiro registo de Valeria Cossati no caderno negro que comprou por impulso, para lhe servir de diário. Estamos na Itália de 1950, e esta mulher de 43 anos, casada há mais de duas décadas com um modesto empregado bancário e mãe de dois estudantes universitários, tem dificuldade em arranjar tempo e privacidade para escrever. “Pensava que já não tinha, em toda a casa, uma gaveta, um recanto que fosse ainda meu”, escreve ela, enquanto se recrimina pelos estratagemas que imagina para esconder a sua aquisição. Afinal, teria de justificá-la para impedir que outros se apropriassem dela, e é-lhe impossível confessar o que tenciona fazer, pois a mera menção à hipótese de manter um diário faz marido e filhos rirem-se: que pensamentos ou experiências poderá ela ter que sejam dignos de nota?
A própria Valeria nunca acreditou que o seu quotidiano merecesse ponderação, mas o registo dos acontecimentos de cada dia obriga-a a recordá-los e a tentar percebê-los. Dessa forma, começa a descobrir que “uma palavra, uma entoação, podem ser tão importantes como os factos que estamos habitados a considerar importantes ou até mais”, e que “aprender a compreender as coisas mínimas que acontecem todos os dias é talvez aprender a compreender verdadeiramente o significado mais recôndito da vida”. Teme, porém, que isso não seja bom, na medida em que é levada a questionar a crença na harmonia doméstica, confrontando-se com o afastamento do marido, com a rebelião da filha inteligente contra os valores subjacentes às dinâmicas familiares sedimentadas, e com os defeitos do filho, que culpa o pai por não ter conseguido enriquecer a família e se ressente da irmã por lhe ferir a masculinidade ao ultrapassá-lo no mundo do estudo e do trabalho.
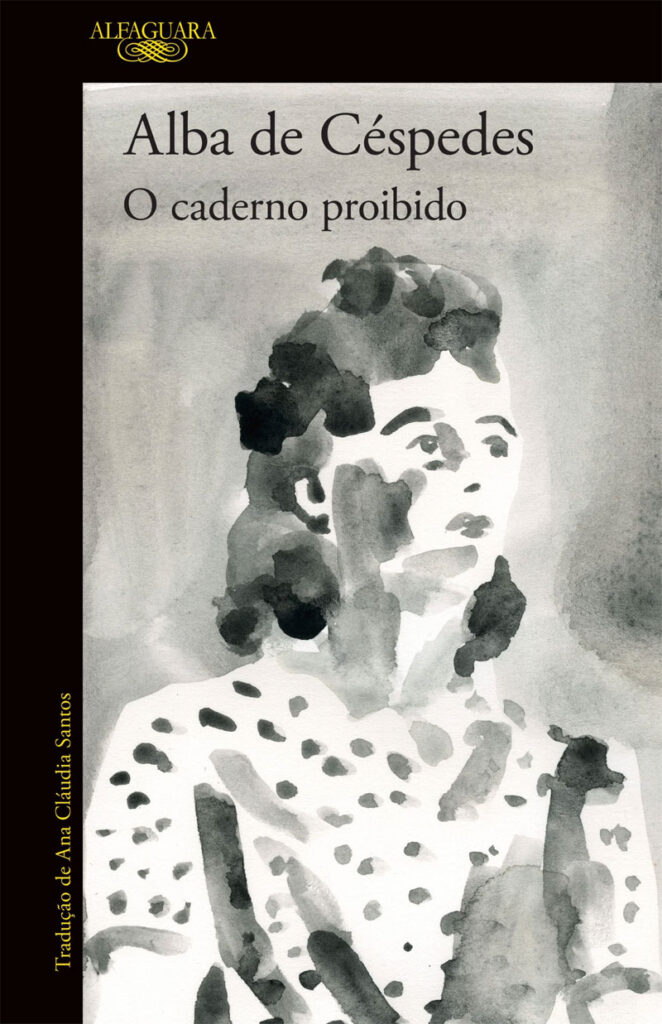
Ao longo de seis meses, a crescente consciência da realidade transforma Valeria, que descobre ambiguidades inquietantes no seu próprio carácter, dividido entre o ressentimento contra a ingratidão daqueles a quem dedicou toda a vida e a superioridade moral que encontra nos seus sacrifícios, ainda que as suas certezas sejam cada vez mais abaladas. “Eu nunca tive ideias próprias; encostei-me, até agora, a uma moral aprendida em criança ou ao que dizia o meu marido”, reflecte, questionando as noções maniqueístas herdadas sobre o Bem e o Mal. O emprego num escritório, que começou por ser uma necessidade económica, torna-se um refúgio e uma fonte de satisfação pessoal, mas distancia-a da maioria das antigas colegas de escola – que necessitam de recorrer a subterfúgios para obterem dinheiro dos maridos – e coloca-a perante um dilema romântico que a atormentará até ao fim do diário.
Publicado pela primeira vez em 1952, “O Caderno Proibido” (Alfaguara, 2024) mantém hoje grande parte do potencial subversivo de então, podendo ser considerado um dos textos mais poderosos de Alba de Céspedes, autora nascida em 1911, em Roma – onde o pai desempenhava as funções de embaixador de Cuba –, que viu o seu primeiro romance banido em Itália e esteve presa por actividades antifascistas, tendo falecido em Paris, em 1997. Escrita pouco depois da Segunda Grande Guerra, esta é uma obra que não só representa um tempo de mudança nas relações entre pais e filhos, ou entre homens e mulheres – tempo como o de hoje, em que o futuro é incerto e o passado já não serve de referência –, mas também traça o retrato complexo de uma mulher com múltiplas camadas para além das aparências, para quem o auto-conhecimento traz mais desassossego do que felicidade.











Sem Comentários