Uma nova doença contagiosa alastra pelo mundo, atingindo em poucos dias proporções pandémicas, sobretudo devido às viagens de avião que unem cidades distantes. Os infectados adoecem em poucas horas com sintomas de gripe e não tardam a morrer. Desprovidas de mão-de-obra para a sua manutenção, as infraestruturas degradam-se e os sobreviventes são obrigados a mudar radicalmente de estilo de vida. O cisma entre o mundo antigo e o novo é tão profundo que a contagem do tempo é reiniciada a partir do Ano Um do “colapso”, como lhe chamam.
Esta é a premissa de “Estação Onze” (Editorial Presença, 2015), de Emily St. John Mandel, escrito e publicado numa altura em que a Covid-19 ainda nem sequer estava no radar dos epidemiologistas. Aqui, a doença chama-se “gripe da Geórgia”, sendo as autoridades desta antiga república soviética, bem como as da Rússia, acusadas de não terem sido “inteiramente transparentes quanto à gravidade da crise nos seus territórios”. Qualquer semelhança com a realidade é apenas mais um caso em que a vida imita a ficção.
O livro começa numa noite de Inverno, num teatro de Toronto, onde decorre uma representação de “O Rei Lear”, de Shakespeare. A solidão do rei face à loucura não é muito diferente do desamparo de qualquer pessoa perante a doença, e o actor que o interpreta, que também se debate com os seus próprios fantasmas, cai morto em palco, perante o olhar da pequena Kirsten, de sete anos, que desempenha um pequeno papel sem falas. Vinte anos depois, Kirsten integra A Sinfonia Itinerante, uma trupe de músicos e actores que percorrem a América do Norte em caravanas puxadas por cavalos, oferecendo concertos e peças de teatro, seguindo o lema “porque a sobrevivência é insuficiente”.
Neste mundo perigoso, onde proliferam os profetas interesseiros e a trupe é forçada a manter uma organização militar para sua autodefesa, será que o inferno está nos outros ou na ausência dos que desapareceram? Serão mais afortunados os sobreviventes com idade suficiente para se recordarem de tudo o que perderam ou aqueles que nasceram depois do colapso, e vivem entre artefactos incompreensíveis do mundo antigo? Ou serão antes aqueles como Kirsten, cujas memórias da vida anterior ao colapso parecem sonhos de uma noite de Verão?
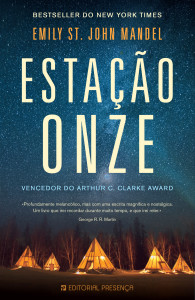 Alternando entre o passado e o presente, a autora tece magistralmente uma teia onde entrelaça a história de diferentes personagens, expondo ao mesmo tempo a fragilidade dos pequenos confortos que hoje damos por garantidos e das certezas mais importantes, como a segurança de que sobreviveremos a um arranhão numa mão ou à dentada de um cão. Apesar da melancolia da escrita, existem momentos de alegria. Há amizade, amor, música e Shakespeare, que ironicamente também viveu numa sociedade pré-industrial marcada pela peste e que parece ser mais apreciado pelo público pós-colapso do que outros autores mais modernos.
Alternando entre o passado e o presente, a autora tece magistralmente uma teia onde entrelaça a história de diferentes personagens, expondo ao mesmo tempo a fragilidade dos pequenos confortos que hoje damos por garantidos e das certezas mais importantes, como a segurança de que sobreviveremos a um arranhão numa mão ou à dentada de um cão. Apesar da melancolia da escrita, existem momentos de alegria. Há amizade, amor, música e Shakespeare, que ironicamente também viveu numa sociedade pré-industrial marcada pela peste e que parece ser mais apreciado pelo público pós-colapso do que outros autores mais modernos.
Parece justo que a autora tenha sido distinguida com o Prémio Arthur C. Clark, atribuído anualmente ao melhor romance de ficção científica publicado no Reino Unido durante o ano anterior. Estamos perante uma obra com vários níveis de leitura, onde a beleza e a tristeza se fundem, acompanhadas pela esperança de que alguma forma de civilização consiga sempre reerguer-se das ruínas da anterior.











Sem Comentários