Teolinda Gersão é um dos nomes mais conceituados da literatura portuguesa do século XX. Nascida em 1940, em Coimbra, estudou Germanística, Romanística e Anglística nas Universidades de Coimbra, Tübingen e Berlim, tendo-se tornado leitora de português na Universidade Técnica de Berlim e professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa, onde leccionou Literatura Alemã e Literatura Comparada. A sua obra encontra-se traduzida em mais de 20 países e já foi alvo de adaptações ao cinema e ao teatro, subindo ao palco em Portugal, na Alemanha e na Roménia. A lista de distinções recebidas inclui o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio do PEN Clube (1981 e 1989), o Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco, o Prémio Fernando Namora (1999 e 2015) e o Prémio Literário Vergílio Ferreira 2017 pelo conjunto da sua obra. Em 2018 foi-lhe atribuído o Marquis Lifiteme Achievement Award, um prémio internacional que homenageia personalidades que se destacam nas suas carreiras.
No início de 2021, ano que assinala quatro décadas de vida literária da autora, a Porto Editora publicou o seu livro mais recente, “O Regresso de Júlia Mann a Paraty”, e reeditou a colectânea de contos “A Mulher que Prendeu a Chuva e Outras Histórias”. Foi sobretudo a propósito dessas duas obras, mas não só, que colocámos algumas perguntas à autora.
O seu livro mais recente, “O Regresso de Julia Mann a Paraty”, começa com Sigmund Freud exilado em Inglaterra para escapar ao totalitarismo nazi, ao qual países como a Alemanha e a Áustria cederam, apesar de todo o seu desenvolvimento cultural. Como encara os movimentos totalitários actuais e a sua relação com a cultura?
Encaro os movimentos totalitários como inimigos da cultura, o totalitarismo é redutor e cego.
A figura de Freud considera-se responsável pelos desastres da sociedade à sua volta, por ter escrito para uma classe privilegiada em vez de se ter manifestado na rua ou publicado artigos em jornais. Acredita que tal comportamento, por parte de indivíduos como Freud, teria sido eficaz contra a barbárie? Como devem os intelectuais humanistas agir perante ela?
Freud admite a sua parte de responsabilidade, porque sempre foi um homem de pensamento, e não de acção. Acreditou que a psicanálise tinha todas as respostas e se podia praticar em qualquer regime. Mas a realidade mostrou-lhe que não era assim, e que é uma ilusão viver à margem da esfera política. Intelectuais ou não, enquanto cidadãos todos somos responsáveis pelo que acontece na sociedade a que pertencemos. A democracia não é um dado adquirido, é um alerta e um esforço quotidiano.
O que a inspirou na concepção da análise que Freud faz de Thomas Mann? Partilha com Freud a interpretação da obra deste escritor?
Admiro muito a obra de Thomas Mann, mas em parte subscrevo a visão de Freud.
Coloca Freud a pensar que será sempre em alemão que continuará a escrever e a pensar. Nos períodos que viveu fora de Portugal, continuou a pensar sempre em português? Crê que algo mudaria na sua ficção se pensasse noutra língua?
Os casos em que um escritor usa mais do que uma língua são raros, mas existem: Beckett era irlandês e escreveu em inglês e francês, Cioran escreveu em romeno e francês, e há vários outros, Nabokov, Jack London… Mas creio que a língua de origem é por natureza a nossa, e acompanha-nos ao longo da vida, a menos que se verifiquem condições muito particulares e adversas. No meu caso, é sempre em português que penso e me exprimo, posso usar outra língua em textos funcionais, possivelmente até talvez num ensaio, mas nunca para escrever literatura.
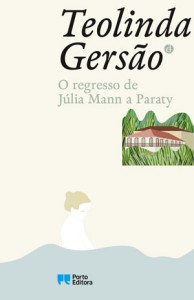 É por ironia propositada que um livro iniciado com as reflexões de Freud termina com a figura de Julia Mann, mãe de Thomas Mann, a acreditar que foi má mãe porque não conseguiu transmitir paz e felicidade aos filhos?
É por ironia propositada que um livro iniciado com as reflexões de Freud termina com a figura de Julia Mann, mãe de Thomas Mann, a acreditar que foi má mãe porque não conseguiu transmitir paz e felicidade aos filhos?
Não é por ironia, longe disso… A família Mann era profundamente disfuncional, e nesses casos (aliás também noutros…) as mães têm tendência a culpabilizar-se. Júlia foi uma boa mãe, fez tudo o que pôde pelos filhos, deu-lhes o melhor de si mesma. Mas, como qualquer mãe, não tinha o poder de mudar as suas vidas.
Enquanto mulher, Julia Mann dispõe de pouco controlo sobre a própria vida, sendo impedida de casar com quem desejava e de se afirmar como artista. Como avalia a evolução da condição feminina desde então até aos dias de hoje?
A diferença é enorme, mas ainda há muito caminho a fazer. As mulheres ainda são poucas nos lugares de topo, recebem em muitos casos menor salário por trabalho igual, e a vida doméstica e a educação dos filhos ainda está muito longe de ser dividida em partes iguais.
Freud pensa que Thomas Mann “conhece por dentro o confinamento das mulheres, manietadas por mil convenções e preconceitos”. Ter-se-á o escritor apercebido do confinamento em que a sua mãe vivia, terá preferido não ver, ou será que a proximidade o impediu de ver?
Thomas Mann faz por exemplo um belo retrato de Antonia (Tony), n´Os Buddenbrooks, cujo modelo, na vida real, foi a sua tia Elisabeth, aliás muito mais ousada do que outras figuras femininas, domésticas e resignadas, que surgem nos seus livros. Em relação a Júlia, a sua perspectiva é enviesada pelo preconceito de que ela vinha do Sul, de um lugar muito abaixo do mapa da Europa, e estava deslocada na sociedade burguesa da Alemanha, nessa época.
A figura de Thomas Mann pensa: “sou eu o livro que desde sempre escrevo”. Diria isso de si própria? Quanto de si está reflectido na sua obra?
Não diria que escrevo sempre o mesmo livro, os meus livros são muito diferentes uns dos outros. Onde muito de mim está reflectido é nos Cadernos, Os guarda-chuvas cintilantes de 1984, a que aliás, em subtítulo, chamei Diário, e As Águas Livres, de 2013. No entanto não é a minha história que relato, é o meu mundo interior.

A sua colectânea de contos “A Mulher que Prendeu a Chuva e Outras Histórias” foi reeditada recentemente, mais de dez anos após a primeira edição, mas poderia ter sido lançada ontem. Gostaria de fazer alguma alteração a esta obra, se pudesse, e porquê?
Cada livro foi escrito num determinado momento e circunstâncias, e depois de publicado nunca volto a ele, nem o releio. Se por qualquer razão tiver de o rever, não tento mudar nada, lutei muito tempo durante a escrita até encontrar uma forma que me satisfez, e essa passará a ser “definitiva”, se fizer alguma alteração será sempre mínima. Talvez se verifique de certo modo uma excepção no caso de “O cavalo de sol”, que irá ser de novo publicado. Em tempos surgiu um projecto, que não se concretizou, de o adaptar ao cinema, e pediram-me que escrevesse como imaginava o filme. Não sei de todo fazer um guião, mas escrevi meia dúzia de notas, numa perspectiva não sei se cinematográfica, mas pelo menos muito visual. Na próxima edição o texto original será integralmente mantido, mas acredito que incluirei essas notas, como uma espécie de brevíssimo prefácio, porque talvez possam ser úteis ao leitor.
A morte, ou pelo menos a sua proximidade, parecer estar bastante presente nestes contos. Trata-se de um tema que decidiu explorar propositadamente? Em caso afirmativo, porquê?
A morte faz parte da vida, mas é um assunto meio tabu, que preferimos ignorar. Contudo não me assusta, mesmo quando penso nela, na primeira pessoa. Não me sinto parte de nenhuma Igreja, embora tenha recebido educação católica, mas acredito numa qualquer dimensão indefinível que nos ultrapassa, a que, à falta de melhor termo, chamamos Deus. Sabemos muito pouco sobre nós mesmos, e não sabemos nada sobre o infinito. Mas haverá talvez pontes possíveis. Afinal o ser humano é o único até hoje com a noção inata de certo e errado, bem e mal. Isso torna-nos criaturas únicas e diferentes. As religiões e as Igrejas têm sido as primeiras a falhar, os governos também, estrondosamente, mas isso não impede a convicção de que cada um de nós tem a escolha de fazer (ou não) alguma coisa, por ínfima que seja, para tentar melhorar alguma coisa no mundo. Julgo que essa possibilidade é o único sentido da nossa passagem por aqui.
A narrativa de “Encontro no S-Bahn”, em que uma estudante portuguesa em Berlim usa as palavras como Xerazade, para se defender de um desconhecido ameaçador, é autobiográfica?
Parte de dados reais: fui aconselhada a não andar de noite no S-Bahn, mas não me deram nenhuma justificação para isso, e andei lá de facto algumas vezes à noite, embora não de madrugada. Também é verdade que pouco tempo depois vi na primeira página de um jornal a notícia de que um predador sexual, que perseguia e matava jovens no S-Bahn, tinha sido finalmente apanhado. Nunca o encontrei, essa parte é ficção. Mas a história nasceu assim, imaginei como teria reagido, se tivesse encontrado um assassino cuja existência ignorava.
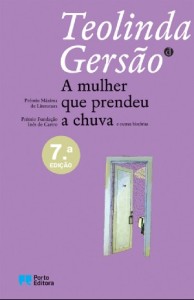 Neste conto, traça um retrato desolador da sociedade alemã em geral, num tempo em que ainda existia o muro de Berlim. A protagonista portuguesa considera que nenhum dos lados do muro é um bom modelo para o seu país. Com base no que conhece da Alemanha, o que lhe parece ter mudado desde então, para melhor ou para pior, nesse país? E em Portugal? O que seria, hoje, um bom modelo para o nosso país?
Neste conto, traça um retrato desolador da sociedade alemã em geral, num tempo em que ainda existia o muro de Berlim. A protagonista portuguesa considera que nenhum dos lados do muro é um bom modelo para o seu país. Com base no que conhece da Alemanha, o que lhe parece ter mudado desde então, para melhor ou para pior, nesse país? E em Portugal? O que seria, hoje, um bom modelo para o nosso país?
Creio que o retrato desolador está detrás do Muro, que era permitido aos estrangeiros visitar com guias, que pretendiam apresentar-nos uma sociedade ideal, o que interiormente nos fazia sorrir… O lado ocidental não era desolador, era pelo contrário, estimulante, mas muito diferente do mundo latino. Pela primeira vez olhei Portugal a partir de fora e apreciei as suas qualidades (até aí quase só lhe via defeitos…). Viver e estudar na Alemanha foi uma experiência gratificante e enriquecedora, que de modo nenhum queria ter perdido. É verdade que a sociedade era por vezes fria e algo preconceituosa em relação aos estrangeiros de alguns países, entre os quais o meu, o que sempre achei inaceitável, mas fiz amigos alemães que ficaram para toda a vida, aprendi muitíssimo na universidade e conheci pessoas extraordinárias, intelectuais, escritores e artistas. Verifiquei que a democracia funcionava, havia liberdade de imprensa e valores que em Portugal não existem até hoje, como o respeito pelas leis, que são para cumprir rigorosamente porque a impunidade não é tolerada, os cidadãos não aceitam que os governantes não cumpram os mesmos deveres do que eles, e há fiscalização suficiente para evitar fraudes – porque, em qualquer país, só não abusa do poder quem for controlado e sofrer sansões se prevaricar. Hoje não penso que Portugal devesse escolher um país como modelo. Bastaria ser ele próprio, corrigindo os seus imensos defeitos: corrupção, desleixo, falta de amor próprio devido a um inexplicável complexo de inferioridade, passividade e submissão ao inaceitável, falta de cultura política e de cidadania – e a lista poderia continuar.
No conto “Cidades”, escreve o seguinte: “[…] eram os choques casuais com a banalidade que de repente se revelavam portadores de sentido, como iluminações momentâneas”. O quotidiano é para si uma fonte de inspiração?
Sim, o quotidiano é a vida real, tal como é, e esse é o meu ponto de partida.
No conto “Roma”, uma personagem afirma: “Os sonhos desestabilizam. Num universo absolutamente nivelado e auto-regulado seria proibido sonhar.” Acreditava então e continua a acreditar na capacidade transformadora do sonho?
O sonho, em sentido lato, é a capacidade de desejar. De imaginar, antes de agir, de antecipar, para poder prever e pensar. Sem imaginação – ou sem sonho – não há soluções possíveis para os becos sem saída em que nos encontramos, como agora. Depois da pandemia nada será como dantes. O mundo está a mudar, depressa e mal. É tempo de sair da anestesia e do torpor, tempo de acordar e procurar saídas. É tempo de imaginar.












Sem Comentários