Desde a publicação de “O Último Cabalista de Lisboa”, há mais de vinte anos, que Richard Zimler (n. 1956) tem vindo a desenvolver a saga dos Zarco, judeus cuja história se funde com a da perseguição religiosa em Portugal.
O seu trabalho mais recente, A Aldeia das Almas Desaparecidas, é um díptico que decorre no século XVII e tem por protagonista uma criança cuja compreensão do mundo se cruza com a descoberta das suas origens. A propósito do primeiro volume, “A Floresta do Avesso” (Porto Editora, 2022 – ler crítica), entrevistámos o autor acerca do desenvolvimento desta obra, cuja leitura, sempre interessante, se torna especialmente urgente num tempo em que se verifica, mais uma vez, a tendência da Humanidade para repetir os erros do passado.

No início do primeiro volume de A Aldeia das Almas Desaparecidas encontramos esta citação, que mais adiante será dita pelo mentor do protagonista: “A história da Humanidade é aquele ser caquético, entediante e verboso que insiste em repetir-se vezes e vezes sem conta”. A que atribui esta dificuldade da Humanidade em aprender com o passado?
Presto muita atenção ao passado e tento aprender com ele. Mas não me parece que, na sua maioria, os nossos líderes políticos o façam. Por exemplo, será que os Estados Unidos teriam invadido o Iraque se os políticos americanos – sobretudo, o Presidente George W. Bush – tivessem aprendido, com a guerra do Vietname, que tais conflitos vão resultar em centenas de milhares de mortes e não vão alcançar os objectivos originalmente previstos? O mesmo em relação a Vladímir Putin. Teria invadido a Ucrânia se tivesse aprendido com a invasão soviética do Afeganistão? Por que razão não aprendemos com a História? Não tenho a certeza. Suponho que muitos de nós somos arrogantes e egoístas, e acreditamos que podemos impor a nossa vontade ao mundo e descurar a História. Por isso, é importantíssimo que escolhamos os nossos líderes com muito cuidado. Votar em homens e mulheres arrogantes, egoístas e ignorantes é sempre um erro e pode conduzir-nos a grandes tragédias. Não devemos votar em quem espalha notícias falsas ou teorias da conspiração. E temos de insistir que as disciplinas de História sejam centrais na formação dos nossos jovens.
Sente que as suas obras têm aumentado o conhecimento dos portugueses acerca do historial nacional de anti-semitismo? Até que ponto poderá a literatura contribuir para a luta contra os vários tipos de discriminação que persistem na sociedade?
Sim, acredito que os meus leitores entendem bem que este país já teve uma próspera comunidade judaica, que esses judeus eram tão portugueses como os seus vizinhos cristãos, e que foram muito maltratados pelos reis e pela Igreja Católica. Os judeus de Lisboa, Porto, Coimbra, Braga e todas as outras cidades, vilas e aldeias de Portugal falavam português, vestiam-se como os seus vizinhos cristãos e comiam as mesmas comidas (excepto porco e marisco). Acho que a literatura pode dar um contributo importante na luta contra a discriminação porque, quando lemos um grande romance ou um comovente livro de memórias, formamos uma identificação próxima com os personagens ou o autor. Por exemplo, é quase impossível ler “O Diário de Anne Frank” sem formar um relacionamento estreito com a Anne. Através dela e da sua família, aprendemos como a perseguição dos nazis e seus colaboradores criou sofrimento e tormento nos judeus. E sentimos esse sofrimento junto com a Anne. E, quando descobrimos que ela morreu num campo de extermínio nazi, é devastador.
Durante a investigação que realizou para a escrita desta última obra, descobriu algo que o tenha surpreendido e que possa partilhar connosco?
Fiquei surpreendido quando soube que dezenas de moradores de Castelo Rodrigo e das aldeias vizinhas (Escalhão, Escarrigo, etc.) foram presos pela Inquisição entre 1670 e 1685. Não sabia o efeito devastador que o Santo Ofício teve sobre aquela região no final do século XVII. A Inquisição deve ter criado uma divisão profunda naquelas aldeias – entre os cristãos-novos que foram arrastados para a prisão inquisitorial em Coimbra e os vizinhos que os denunciaram como judeus secretos. Tendemos a pensar nas pequenas aldeias como lugares pacatos e pacíficos, mas Castelo Rodrigo e o resto do país foram dominados por uma ditadura religiosa durante o período sobre o qual escrevo. Todas os moradores da aldeia devem ter ficado com medo de ser denunciados e encarcerados numa prisão onde seriam torturados durante um, dois, três ou mais anos.
A vida do seu jovem protagonista, Isaaque Zarco, é influenciada pelas leituras que faz ainda em criança.
O Isaaque é mais influenciado pelos mitos gregos que lhe são contados por um vizinho da aldeia, o Sr. António, pai da sua melhor amiga, Helena. Curiosamente, António pode nunca ter lido estes mitos – podem ter sido transmitidos oralmente na sua família –, porque diferem das versões mais clássicas em aspectos importantes. Uma das histórias – o mito de Helena de Troia e o início da guerra de Troia – causa uma grande impressão em Isaaque, especialmente quando ele e a Lena interpretam os papéis principais. Mais adiante no livro, num momento crítico, o Isaaque lembra-se desse mito, e o rapto de Helena de Troia dá-lhe uma pista para tentar libertar dois amigos presos na prisão inquisitorial em Coimbra. Ou seja, uma história que ouviu quando era muito jovem muda todo o rumo da sua vida e desencadeia uma estratégia muito perigosa para libertar os seus amigos.
A perspectiva que domina a maior parte deste volume é a de uma criança que procura dar sentido ao mundo em que vive e encontrar o seu caminho, num contexto muito complicado. Salvaguardando a devida distância temporal, quanto de si foi colocado na visão deste rapaz?
Isaaque e eu somos parecidos em alguns aspectos e muito diferentes noutros. Por exemplo, ambos somos extremamente persistentes. A música é muito importante para nós os dois também – ele aprende a tocar o clavicórdio, por exemplo, e adora cantar. Mas é um cantor muito mais talentoso do que eu. Uma grande diferença é que ele é forçado por algumas circunstâncias muito trágicas a crescer rapidamente. Aos 18 anos, é bastante mais maduro do que eu na mesma idade. E muito mais corajoso também.
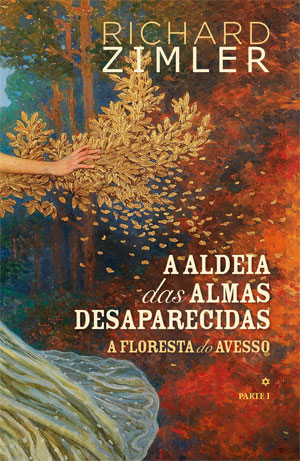
Isaaque, fruto português de uma família luso-espanhola, sente que se torna uma pessoa diferente quando pensa em castelhano, ou quando fala inglês com William Benjamin, o amigo britânico. Tendo o Richard Zimler o inglês como língua materna, mas vivendo há vários anos em Portugal, como é hoje a sua relação com estas línguas – e de que forma cada uma delas afecta a sua maneira de ser?
As duas línguas são muito importantes para mim. E é um grande desafio falar e escrever bem português. Fico muito grato por ter tido esta oportunidade de dominar uma segunda língua, porque a minha fluência me deu acesso a um novo mundo – o mundo da cultura portuguesa (dos grandes escritores e músicos, por exemplo). Acho que sou uma pessoa diferente – e um escritor diferente – em cada idioma. Em inglês, por exemplo, consigo criar humor com mais facilidade. E sinto-me mais seguro. Quando estou a falar português, fico sempre com uma pequena dúvida se estou a empregar bem as palavras – se estou a falar de forma poética, envolvente e inteligente. Quando tenho de dizer algo que requer muita fluência – descrever uma emoção complexa, por exemplo –, preocupa-me sempre não estar a usar as palavras correctas. Em essência, falar inglês requer menos esforço.
A família Zarco tem sido uma presença regular na sua ficção, desde a estreia com “O Último Cabalista de Lisboa”. A que se deve tal opção? Este fio condutor que une várias obras já estava presente quando começou a escrever este último livro, ou a ideia surgiu de forma independente e a ligação foi estabelecida mais tarde?
Este romance mudou de direcção depois de eu escrever cerca de cinquenta páginas. Explico-me… Comecei a escrever um livro sobre um mágico que vive em Castelo Rodrigo e que vai viver para o Porto. Embora o que escrevi tenha sido bastante bom, parecia que o romance queria ser outra coisa – que Isaaque e os outros personagens queriam fazer parte de uma história diferente. Sei que pode soar estranho, mas foi o que aconteceu. Então, eliminei cerca de 40 das 50 páginas que tinha escrito e comecei de novo. Mais tarde, percebi que o romance queria ser a história de como a Inquisição afecta a vida de um menino que cresce em Castelo Rodrigo – e como isso afecta a sua aldeia e todo o país. Achei que seria emocionante e original escrever sobre a Inquisição do ponto de vista de um rapaz que não entende muito bem o mundo adulto – que não consegue entender, por exemplo, por que razão os vizinhos denunciam alguém por ser judeu. Não consegue nem entender o que significa ser judeu – nunca lhe foi explicado. Os dois volumes deste romance são o sexto e o sétimo livros daquilo a que chamo o meu Ciclo Sefardita. São romances independentes sobre diferentes ramos e gerações da família Zarco. Adoro este projecto porque me dá muitas oportunidades de criar ligações quase invisíveis entre os livros. E acho que os leitores também gostam disso. Assim, por exemplo, neste romance, há várias referências a Berequias Zarco, o narrador de “O Último Cabalista de Lisboa”. E um dos personagens – Samuel – possui um livro que foi iluminado por Berequias. Para mim, isso torna os romances ainda mais reais – porque todos sabemos que quem somos (onde crescemos, que profissão temos) foi, em parte, determinado pelas acções de nossos pais, avós e outros antepassados.
Foto: Lara Jacinto











Sem Comentários