Um olhar implacável, um pensamento rigoroso, uma invulgar capacidade de filtrar a experiência pessoal e de a transformar em literatura universal, que penetra na pele e na circulação sanguínea. Depois de alguns anos difíceis na Britânia, Rachel Cusk tem de novo o mundo literário, a imprensa e os leitores a seus pés, muito por culpa da edição de “A Contraluz”, primeiro livro de uma trilogia onde a autora serve de receptáculo às vidas alheias com que se vai cruzando. Aproveitámos a recente edição do LeV – Literatura em Viagem para falar com Rachel Cusk, uma escritora felizmente invulgar.
“A Contraluz” (Outline no original) é difícil de categorizar, algures entre um romance autobiográfico, um guia de escrita criativa e um manual literário de psicanálise. De qualquer forma e depois de um silêncio auto-imposto, provocado por “Aftermath”, há aqui um renascimento e uma reviravolta na forma como aborda a escrita. Ou, pelo menos, uma mudança de forma (e não tanto de estilo). “Acontecia que eu já não estava interessada na literatura como uma forma de arrogância ou mesmo de auto-definição”, diz Faye em “A Contraluz”. O que lhe interessa agora na literatura?
Uma das coisas que sempre me alimentou, e que assegurou as minhas necessidades mais profundas na literatura, foi o sentimento de que aquilo que estou a descobrir já foi descoberto antes por outra pessoa. Suponho que é algo que os pais tentam transmitir, esse profundo conforto, que é aquilo que procuro. “A Contraluz” foi uma tentativa de quebrar experiências formativas na escrita e de sair também de uma certa formatação pessoal. Porque escrevo eu romances como este? Porque olho para o mundo desta forma? Porque ajo desta forma? Quanto daquilo que vivi tem ou deve ter correspondência com a forma artística? O que tentei em “A Contraluz” foi regressar ao “eu” essencial, bem mais pequeno do que o “eu “ formatado. Esse foi o projecto do livro, e tem sido muito interessante encontrar outros exemplos no cânone literário, como Marguerite Duras ou Albert Camus, que foram muito bem-sucedidos no retrato desta essência.
“Às vezes o inesperado parece ser um incitamento do destino.” Pode dizer-se que escreve enquanto vive, atenta ao inesperado?
Trata-se de reconhecer formas e padrões nas coisas, de olhar o próprio “eu” como padrão. O que me interessa no “eu” não é aquilo que é excepção, não estou interessada em mim própria como regra. Tudo aquilo que me interessa são as coisas que podem ser partilhadas. Nunca escrevi, por exemplo, sobre a minha experiência numa escola católica, porque isso é uma aberração, algo pouco usual que a maioria das pessoas não experiencia.
As suas descrições são verdadeiras radiografias, vão até ao osso. Contudo, parecem centrar-se mais nos tumores do que no que fica bem na fotografia. Interessam-lhe mais as imperfeições das suas personagens?
Estou interessada em compreender o pavor, o medo. Talvez seja verdade que na leitura ressalte alguma fealdade e malevolência ou simplesmente as “falhas” das personagens, mas o importante é não olhar para isso como o fim de tudo. A mesma pessoa que Faye descreve no barco como um morcego pré-histórico saindo da sua caverna pode ser também uma boa pessoa, com boas qualidades. Se a literatura tem uma missão, e não estou segura de que a tenha, talvez seja a de ajudar as pessoas a lidarem com os seus mitos e a se olharem – e à vida – como uma mistura entre o bem e o mal.
Um dos temas centrais dos seus livros é o casamento, que define como “um sistema de crença, uma história”, comandado por um impulso em última análise “misterioso”. É este um dos maiores mistérios da vida?
O casamento é algo formatado, tal como o romance ou uma peça de teatro. A pergunta que podemos fazer é: mas devem as pessoas viver sem formatação? Portamo-nos de certa forma porque nos dizem que deve ser assim, e não deixa de ser sempre surpreendente. Faz parte da civilização saber como se deve portar em determinadas situações. Quando entramos num elevador, por exemplo, toda a gente sabe o que dizer, e se alguém viola a convenção torna-se bastante embaraçoso – e todos sentem isso. O mesmo acontece quando nos sentamos à mesa, é válido para quase tudo. O casamento é a nossa maior convenção no que diz respeito à experiência de vida, deixa muitas interrogações.
Mas vale a pena?
Bem, vale a pena levá-lo muito a sério e compreendê-lo. É muito difícil sermos bons nas coisas, e ser bom no casamento é tão ou mais difícil do que aprender a tocar Rachmaninoff. Tem de ser muito trabalhado para ser bem feito.
Ainda sobre o casamento, lê-se a certa altura: “Perde-se tanto, observou ele, no naufrágio. O que permanece são fragmentos e, se não nos segurarmos a eles, o mar também os leva.” Esta ideia de deriva aplica-se também à própria vida?
Trata-se de sofrimento, não é? Tudo é destruição, a civilização tende a criar e a destruir. Somos feitos de ciclos: aprendemos algo, ou então estamos desfeitos, não aprendemos nada e afundamo-nos. O processo de viver, para a maior parte das pessoas, é um processo constante de perda. O momento histórico na Inglaterra, assim como nos Estados Unidos, é muito interessante, estamos a perder o sentido de realidade. O mundo está diferente e há um grande terror nisto. É como uma crise de meia-idade global.
É interessante que, no meio de tanto negrume, haja momentos de requintado humor e fina ironia. Sentido de humor canadiano, inglês, americano ou… Cuskiano?
Não pode ser canadiano, mas percebi a piada (risos). Escrever é a minha área de liberdade, o palco onde faço coisas que deixo passar na vida – talvez por a levar demasiado a sério. O charme e o humor são essenciais num texto literário, pelo menos nos meus textos, como forma de justificar a sua presença. O escritor tem de seduzir e entreter os leitores, e o humor toma parte nisso. Nunca me dedicaria ao humor como profissão, mas tenho de ser capaz de o utilizar na escrita.
D. H. Lawrence parece ter sido uma grande referência para si enquanto escritora, sobretudo enquanto consolo para aqueles que dizem que é demasiado cruel nos seus retratos. Existem outras referências e paixões literárias para além desta?
Sinto-me constantemente a ser guiada por algo. Se vivermos, se realmente vivermos um autor, este é como um pai, dá-nos algo que se torna uma parte fundamental da vida, e DH Lawrence teve muito para me ensinar. Cresci de uma forma pouco física, tensa e julgadora, profundamente convencional na forma de olhar o mundo. As frases de Lawrence foram libertadoras para mim, pela sua liberdade estilística e pela forma como me fizeram viajar. Aprendi a escapar às frases esperadas. Aprendi e ainda aprendo. Fui também influenciada pelo drama grego, a minha maior área de estudo, mas também Thomas Mann, George Elliot, Tchekhov, Tolstoi, os grandes moralistas que escreveram no despontar do modernismo.
Diria que a sua escrita é feminina ou, no acto da escrita, é assexual? Em “A Contraluz”, por exemplo, há um pedaço de escrita incrível no feminino quando Faye, a narradora, conversa com Melete e Elena, sobre quem a narradora escreve isto: “…ela tinha contactado com as profundezas da desilusão na personalidade masculina ao ser honesta precisamente daquele jeito: homens que afirmavam num instante que estavam a morrer de amor por ela e que no instante a seguir a estavam a insultar abertamente, e somente quando chegava a este nível de franqueza mútua é que ela descobria quem era e o que realmente queria. O que não conseguia suportar, acrescentou, era o fingimento de qualquer espécie, em particular a simulação do desejo, quando alguém simulava a necessidade de a possuir por inteiro quando, na verdade, o que pretendia era usá-la temporariamente. Não que, precisou ela, não estivesse perfeitamente apta para usar também os outros, mas apenas o assumia quando estes tivessem admitido a mesma intenção.”
Nunca senti que tivesse permissão para ser feminina, ou mesmo mulher. Experienciei sempre o feminismo como algo comprometido, uma auto-ilusão. Foi assim a minha vida pessoal. Como disse antes é algo que para mim constitui uma excepção, não é particularmente interessante. Algo que se surgir no meu trabalho pode causar problemas, fazer-me parecer hostil diante de instituições femininas ou ligadas à maternidade. Não estou preocupada com o feminismo, interessa-me mais a espiritualidade, a moral, a verdade, o encontro entre o feminino e o masculino. Tenho filhas que são agora jovens adultas e que estão a milhas de onde eu me encontrava na idade delas. Cabe-lhes decidir o seu papel e as suas escolhas.
Partilha da visão sobre a Europa apresentada por uma das suas personagens? “He had found not the intact civilisation that he had imagined, but instead a ragged collection of confused people adrift in an unfamiliar place”.
Penso que estamos desesperadamente a tentar agarrarmo-nos a esse passado, o passado europeu. Mas talvez seja um sentimento das pessoas da minha idade, não tenho a certeza de que os jovens sintam o mesmo.
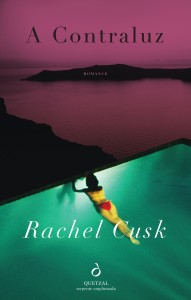 O seu divórcio parece tê-la ajudado a olhar mais atentamente para as vidas alheias. Em “A Contraluz”, porém, as dúvidas sobre o quotidiano e o que os escritores fazem dele surgem através de Gorgeou, um dos alunos do curso de escrita criativa: “Ele próprio não reparara em nada do caminho para aqui: não costumava reparar nas coisas que não lhe diziam respeito, precisamente por essa mesma razão, a de que ele via a nossa tendência para ficcionalizar as nossas experiências como alguma coisa decididamente perigosa, pois essa tendência levava-nos a acreditar que a vida humana tinha alguma espécie de propósito e que éramos mais importantes do que na realidade éramos”. Em que ficamos?
O seu divórcio parece tê-la ajudado a olhar mais atentamente para as vidas alheias. Em “A Contraluz”, porém, as dúvidas sobre o quotidiano e o que os escritores fazem dele surgem através de Gorgeou, um dos alunos do curso de escrita criativa: “Ele próprio não reparara em nada do caminho para aqui: não costumava reparar nas coisas que não lhe diziam respeito, precisamente por essa mesma razão, a de que ele via a nossa tendência para ficcionalizar as nossas experiências como alguma coisa decididamente perigosa, pois essa tendência levava-nos a acreditar que a vida humana tinha alguma espécie de propósito e que éramos mais importantes do que na realidade éramos”. Em que ficamos?
É ilógico (risos). Até porque estas aulas de escrita criativa não são aulas de escrita, são momentos de conversa. Ninguém escreve nada a não ser a pessoa que escreve mais tarde este livro, que por acaso não está a falar. Essa distinção, entre falar, ouvir e o que quer que este livro seja, foi muito importante para mim.
Como viu estas palmadinhas nas costas da imprensa britânica e do meio literário depois de alguns anos difíceis?
Deixou-me com o coração frio de um assassino. Talvez tenha sido justiça, não sei, foi tudo uma experiência amarga, uma outra forma de ver como a sociedade olha muitas vezes para os artistas. Tornou-me mais fria.
Até porque a sua escrita não mudou assim tanto.
A sociedade ama os produtos da insinceridade, os romances sobre o que não existe, e premeia-os, e o meu trabalho nunca será tratado assim. Não quero ser cínica. Mesmo que as pessoas tenham sido mais receptivas ao meu trabalho, sinto que estenunca será tratado da melhor forma. Até porque quero que gostem dos meus livros por aquilo que fiz, que os compreendam pelas razões certas, isso é suficiente. Até para poder deixar o mundo da escrita, não imediatamente mas daqui a não muito tempo. A escrita é como uma família adoptiva, não quero incomodar.
Durante a sua vida mudou-se muitas vezes. A que se deve essa necessidade de alterar constantemente as coordenadas geográficas?
Quando fico muito tempo no mesmo sítio começo a transferir-me para esse lugar, a vê-lo como eu mesma, e não gosto dessa sensação. De forma a manter a objetividade não poderia viver de uma forma normal, se fizesse isso não conseguiria escrever. Por isso tenho de me manter afastada e mudar de sítio é a melhor forma de o fazer.
Penso que não mantém o hábito de escrever diários. Mas não serão os seus livros diários ficcionados, uma forma de preservar própria memória?
Sim, uma forma de condensar o enorme desperdício de tempo que é viver (risos).
Créditos da foto: Ulf Andersen
—
Para além de “A Contraluz”, publicado pela Quetzal, está também disponível nas livrarias portuguesas “Arlington Park”, com o selo da Editorial Presença.
O Deus Me Livro esteve no LeV – Literatura em Viagem a convite da Booktailors.


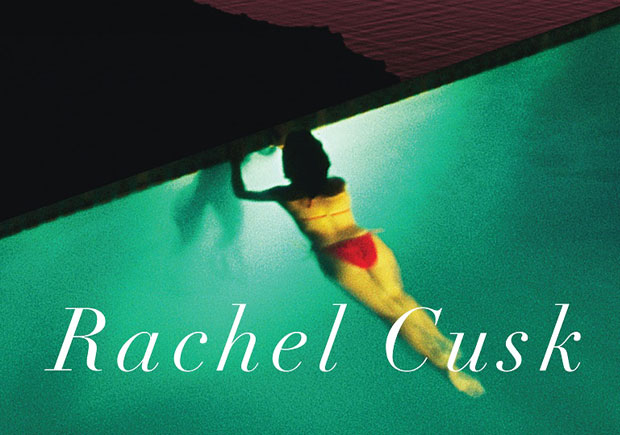










Sem Comentários