Uma moto, uma tenda, um bloco de notas. Foi este o ponto de partida para Paulo Moura se fazer à estrada, montado na sua Triumph Tiger 800 preta, para uma viagem pela costa portuguesa que foi de Caminha a Monte Gordo. Nas duas malas laterais de alumínio, para lá da tenda e do bloco de notas, seguiram roupa, livros, material para preparar refeições leves, um computador portátil e adaptadores de corrente, um saco impermeável, um saco-cama, um colchão insuflável e uma pequena cadeira desmontável.
A “grande viagem portuguesa” – palavras do autor no prefácio -, que começou a ser contada na revista 2 do jornal Público, chega agora a livro com o título “Extremo Ocidental” (Elsinore, 2016). Uma viagem que, mais do que lugares, conta as histórias daqueles que permanecem junto a estradas sinuosas ou desertas, dunas e pinhais e, muitas vezes, junto a “cemitérios abandonados”. Aproveitámos a ida ao LeV – Literatura em Viagem para estar à conversa.
Quanto de premonição (jornalística preparatória) e quanto de aventura e inesperado contou esta viagem? Em Afife, por exemplo, revela-se um apurado trabalho de investigação, desde a relação e o apego às artes do estuque ao desenvolvimento do gosto pelo teatro, que levou à criação de várias sociedades culturais e, por fim, à construção do casino. Houve um trabalho preparatório para esta e as outras viagens?
Geralmente não. Havia uma ou outra que foram acrescentadas, como a do Parque de Campismo da Caparica, onde fui de propósito e fiquei cerca de duas semanas acampado, porque queria fazer uma reportagem centrada naquela história específica e já conhecida. Mas todas as outras funcionaram ao contrário, de forma espontânea. Vou viajar e deparo-me com uma história qualquer e, só então, vou investigar. Quando identifico a história esqueço tudo o resto e concentro-me em descobrir mais sobre ela. Em Afife implicou ir para os Arquivos do Porto, da Associação, do Casino, fazer entrevistas com o actual e o antigo Presidente da terra, várias pessoas da terra e um familiar do tal fundador que me contou parte da história, o que implicou que tivesse de lá ir mais vezes. Em qualquer caso implica sempre um trabalho de pesquisa até que a história seja identificada. No caso de Afife a história do casino surgiu, depois de algumas conversas, como algo óbvio. Segui viagem para sul e voltei uns dias depois, por isso esta viagem não foi assim tão linear porque implicou andar para trás e para a frente. Ao todo não foram 1000 quilómetros, provavelmente terão sido antes uns 3000.
Lisboa, Porto, Algarve. O resto é paisagem? Isto a propósito do fraco turismo na região que vai do Furadouro às lagunas da Gafanha-da-Nazaré e Ílhavo.
Sim, isso é uma das coisas que constatei na viagem, e as próprias pessoas dessas zonas queixavam-se disso. Na zona de São Jacinto, quando estava instalado num parque de campismo incrível da Orbitur – que parece que vai fechar porque não tem ninguém -, estava a dar na televisão do bar uma reportagem sobre o boom do turismo em Portugal. Passavam imagens do Algarve completamente cheio, o director a ver aquilo com o parque vazio com 2 ou 3 tendas, e constatas que é verdade. O boom do turismo está de facto circunscrito: Lisboa, Algarve, o Porto (agora) e pouco mais. São Jacinto tem das praias mais bonitas do país e não tem um único turista, ninguém vai lá. Há uma forma muito desigual de explorar o turismo em Portugal.
Há, sobretudo, um olhar social e humano, mais do que para os lugares. É esta uma literatura de viagens feita de carne e osso?
Acho que não há outra forma. Se é literatura ou não isso já não sei, mas a escrita de viagens – assim como a reportagem – tem a ver com as pessoas, elas sim interessam. Mesmo quando se fala das paisagens, de aspectos mais físicos, no fundo trata-se da paisagem humana. Procuro saber as coisas, investigar, mas a minha curiosidade leva-me sempre até às pessoas. São as histórias que as pessoas contam que me interessam. Quando chego a um sítio vou aos cafés, às tascas, e é aí que começam a surgir as histórias.
Uma constante do livro é o assinalar da morte de muitos sonhos, mais do que de grandes vitórias, com a presença de muitos “cemitérios abandonados”. A costa portuguesa está cheia de gente desiludida?
Não vejo isso assim. Os sítios têm a sua vida e também a sua história, que guardam vestígios de coisas que eram boas e desapareceram, deixando para trás uma certa nostalgia. Por vezes tem a ver com as histórias que escolho e a formação jornalística, que tende a procurar o que é mau, negativo – bad news is good news. Talvez tenha essa tendência de identificar o enredo quando há um problema, um conflito, daí algumas histórias terem esse lado negativo. Como a história dos estaleiros, das ruínas, que tem a ver com o abandono, a crise económica e o saque que foi praticado durante anos. Uma instituição importante, com escola e tudo, importante para várias gerações, e que hoje não passa de uma ruína. Outra é a das discotecas de praia, simbólica do que aconteceu com quase todas as mega-discotecas de praia que surgiram e que, hoje em dia, ou fecharam ou estão em grande crise. É um símbolo de uma época que morreu.
 Será o Campismo da Caparica um esmerado retrato do país, entre uma tremenda burocracia, falta de condições e uma teia bem urdida de corrupção e favores?
Será o Campismo da Caparica um esmerado retrato do país, entre uma tremenda burocracia, falta de condições e uma teia bem urdida de corrupção e favores?
A minha ideia de fazer a história foi um pouco nesse sentido. Aquilo é uma espécie de microcosmos onde, de facto, vês a funcionar muitas das coisas más que acontecem no país. Ao mesmo tempo é uma coisa engraçada, séria, leve, mas não deixa de ser uma espécie de campo de refugiados onde todas as piores coisas das sociedades humanas vêm à superfície: a corrupção, os amiguismos, as intrigas, os interesses de cada um. Está tudo ali.
No que toca às motos és um clássico ou um romântico?
O bom é ter a combinação das duas coisas, tanto nas motos como na vida. Antigamente tinha de se saber de mecânica, o que criou a ideia de que o motard era um tipo que só pensava nos motores, na embraiagem, nessas coisas; depois, há uma ideia oposta que acha que a moto é apenas um veículo, para viajar e sentir o vento. Acho que hoje em dia a ideia de andar de moto continua ligada a esse aspecto dos clássicos, de uma ligação à parte mais racional, da mecânica, do funcionamento das coisas, o que não impede que se saboreie a parte romântica – pelo contrário, só a valoriza. Julgo que a mistura de ambas constitui uma filosofia de vida, um simbolismo do que é andar de moto.
Em Sines, ao introduzires o Músicas do Mundo, percorres um pouco da história de Farida e Kuti. Para além das motos e do jornalismo de investigação a música é também uma paixão?
Sim, quando era adolescente a música era a minha grande paixão, mais até que a própria escrita. Tive várias bandas, a primeira banda do Pedro Abrunhosa foi comigo, éramos conhecidos como os Magrinhos e Feios. Tive bandas de vários géneros, do rock ao jazz, tocava guitarra. Para mim, a música continua a ser muito importante nas viagens. Quando vou fazer reportagens a sítios leio livros informativos e de ficção mas também procuro a música e os músicos desses lugares, tudo para criar uma atmosfera.
Diz-nos cinco dos seus discos favoritos de todos os tempos e os que mais gostaste de ouvir recentemente.
É difícil. Posso dizer-te que houve uma fase mais ligada ao rock, aos Rolling Stones – os Beatles nem por isso – e a Bowie e, a partir dos anos 90, interessei-me mais pelo jazz e pelas músicas do mundo, de outras culturas e países. Seguiu-se depois a música clássica. Gosto muito de Bach e de Schubert, por exemplo.
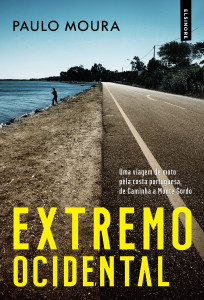 Foi curioso ver duas pessoas partilharem um palco – Fela Kuti e Tony Allen – com duas visões tão distintas da música e de como esta pode afectar as pessoas e o mundo. De quem te sentes mais perto?
Foi curioso ver duas pessoas partilharem um palco – Fela Kuti e Tony Allen – com duas visões tão distintas da música e de como esta pode afectar as pessoas e o mundo. De quem te sentes mais perto?
Sabes, tem dias. Por um lado – não só em relação à música – é inevitável, quando fazes durante muitos anos de reportagens de guerra, tornares-te um pessimista em relação à natureza humana. Não tenho essa ideia muito certa de que o ser humano é bom. Não acho que o ser humano seja bom ou mau, nós é que nos construímos a nós próprios. Mas aquilo que é o dado mais imediato e mais óbvio é sermos, à partida, todos maus. O bem é algo que se constrói, com esforço e elaboração. Muito facilmente nos habituamos às maiores atrocidades. Nesse sentido aproximo-me mais do optimista. Acho que é possível mudar mas, para isso, é preciso passar por muito.
“Nada mudou e tudo mudou”, diz sobre Afife. Pode dizer-se o mesmo desta viagem em relação a ti próprio?
As viagens por um lado mudam-nos, não só porque aprendes e vês coisas como, também, vais alterando a tua atitude perante os outros, as coisas e a própria vida. Mas ao mesmo tempo também te ajudam na auto-descoberta. Podes imaginar que estavas perdido e, de súbito, encontras-te enquanto viajas. Talvez porque, ao viajar, tendemos a apreciar o que é mais importante e a eliminar o supérfluo.













Sem Comentários