No ano em que lhe foi atribuído o Prémio Vergílio Ferreira pelo conjunto da sua obra ficcional, “reveladora de um imaginário transfigurador poderoso” – palavras do júri -, João de Melo publica “Os Navios da Noite” (Dom Quixote, 2016). Um livro escrito do ponto de vista dos vencidos, de um país e de um povo que navegam em águas turbulentas, em páginas onde há viajantes de cruzeiro, presos políticos, um cego que se perde de si e do mundo quando recupera a visão, padres que perderam a fé e, também, Eça de Queirós. O Deus Me Livro conversou com João de Melo na última edição das Correntes d`Escritas.
De onde nasceu a ideia de escrever 18 contos sobre vencidos, sempre com o barulho do mar lá atrás e um navio à espreita?
A noite é o escuro e, de alguma forma, a metáfora do tempo que estamos a atravessar, que é de grandes dificuldades e sacrifícios. O navio, pontuado pela sua luzinha acesa durante a noite, é o portador da esperança, e penso que isso é de alguma forma comum a todos os contos. Estas histórias de vencidos não têm como propósito descrever a derrota, mas sim ir à procura da dignidade dessas pessoas que, por algum motivo, não triunfaram. Uma dignidade que só a Literatura poderá registar, uma vez que a grande História é sempre contada pelos vencedores e do ponto de vista destes.
“…O som que se repetia no interior da minha cabeça”, lê-se no conto inaugural do livro. Haverá hoje em dia uma outra forma mais escondida de censura, de controlo?
Eu não conheço nenhum tipo de censura em relação ao que faço. Sou completamente livre de fazer o que quero, de escrever o que me apetece – ou de não o fazer. Nessa história interessou-me registar algo que se veio a confirmar depois do livro publicado: este episódio aconteceu com muita gente, que foi presa, torturada e não conseguiu resistir à tortura, confessando tudo: não apenas o que era verdade mas, também, o que era mentira. É claramente uma história situada no tempo.
No livro há um permanente desencanto em relação a Portugal: “Esta vergonha, este luto do coração, este nojo por um povo morto”; “..País abrigado mas irreal em que eu ainda acreditava”; “…Deste nosso lugar comum de partridas, sem volta possível nem regresso definitivo a casa.” Como vê o Portugal de hoje?
Vejo Portugal ainda como um país de partidas (e de novo como um país de partidas). A dominante de toda a nossa história é a de sermos um povo de costas voltadas para o continente, mas virado na direcção do grande Atlântico que passou a ser uma espécie de território imaginário, de prolongamento da nossa faixa. E foi por aí que os portugueses saíram a fazer história e a conhecer o mundo, nunca para o interior do continente. Isso só aconteceu mais tarde quando Lisboa, no século XVI, se torna numa capital muito procurada e os portugueses ganham consciência de que são, afinal, europeus. Creio que essa metáfora inspira bastante estas histórias no sentido de perguntar: para quando o regresso? Não apenas ao país e a casa mas, sobretudo, a nós mesmos. Porque continuamos a estar um pouco por fora, e estas histórias perguntam mas não respondem.
No conto “Os pecados do mundo”, um padre muda-se da cidade para o campo e chega ao desacreditar da fá, “fechado dentro dos segredos de uma cidade que ele sabia condenada ao inferno.” É difícil manter a fé?
É difícil, e digo-o por mim. Estou num processo de busca desesperada de algo em que possa firmemente acreditar e, sobretudo, salvar da instabilidade, da angústia, do medo da morte e do além – que é algo que me atormenta desde que perdi a minha fé católica, apostólica e romana. Os portugueses vivem uma crise de fé que se confunde muito com a falta de esperança no futuro imediato (e têm razões para isso). Se calhar está chegado o momento de as pessoas se agarrarem a algo, que talvez não seja a esperança mas, pelo menos, a procura de alguma fé – nem que seja a fé social. O que é difícil de concretizar, uma vez que a linguagem da política é tão geral e tão genérica que nunca entra nas casas: fica-se pelos telhados, pelas antenas televisivas. Não entra verdadeiramente nas casas, que é onde está o coração das pessoas.
A ideia de morte está muito presente. Em “A minha mãe e eu” lê-se isto: “…Não eram os mortos a viverem em nós, mas nós a morrermos com eles.” A ideia da morte é algo que o acompanha, tanto no acto da escrita como na própria existência?
A morte é a grande perda. Começamos por perder os seres que nos deram a vida – algo doloroso e que não se adquire nunca mais -, depois começa a aproximar-se lentamente o nosso próprio horizonte, que vai começando a ser cada vez mais curto, e começamos então a olhar para a transcendência do ser e do estar. E, se não tivermos a tal fé que nos salva, somos efectivamente uma espécie de vencidos da vida, porque acabamos por nos entregar unilateralmente aquilo que é o fim absoluto. Digamos que invejo de certa maneira os crentes, os crentes verdadeiros, que acreditam que a morte não é o fim mas um novo princípio, enquanto eu apenas suspiro apenas pela morte digna, pela hipótese de poder escolher ou deixar que escolham o momento da minha morte. Não tenho tanto medo do além, do que possa estar ou não do lado de lá, mas sim da passagem. Que é muito escura, fria e infinita.
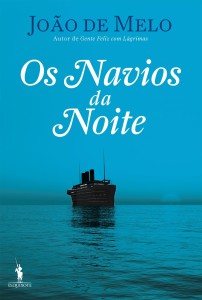 N`”O regresso de José Maria” fala-se – ou exige-se – do escritor como o salvador da pátria, numa altura em que “os políticos não estão à altura.” A Literatura portuguesa tem-se afastado da política?
N`”O regresso de José Maria” fala-se – ou exige-se – do escritor como o salvador da pátria, numa altura em que “os políticos não estão à altura.” A Literatura portuguesa tem-se afastado da política?
Aí a palavra foi dada ao Eça de Queirós, à sua ironia e aos duplos sentidos. Faço regressar o Eça para falar não como uma pessoa real mas como uma personagem da sua própria ficção: o João da Ega, que dizem ser o seu alter-ego n`”Os Maias”. A Literatura não precisa de ser declaradamente política para o ser. Porque se aborda o mal, se aborda o mundo do mal, se se anuncia como uma espécie de profecia da esperança e da reabilitação das pessoas, está também a invadir os domínios estritos da política. É errado pensar que a literatura tem poder. Não tem. Ou melhor, tem o poder que os leitores lhe derem. Não considero que ser político seja uma boa coisa. Eu não gostava de ser político, nunca. Porque a política pressupõe uma capacidade de auto-flagelação enorme que não tenho, que obrigaria a um acto de humildade permanente que levaria a que o político não tivesse a proa e a prosápia perante quem o elegeu e que se submetesse, sempre, aos desígnios do outro, do eleitor. Suponho que quem vai para a política tem um gene que o leva a ter de lidar com esta dupla realidade: ser o portador do poder mas, também, do contra-poder dos outros.
Qual foi o primeiro pensamento que lhe passou pela cabeça quando soube que lhe tinha sido atribuído o Prémio Vergílio Ferreira?
Fiquei um pouco atordoado porque foi uma notícia súbita, estava a fazer jogging em Lisboa. Toca o telefone e era o júri a dar-me a notícia. Estava longíssimo, nem sabia que era por aqueles dias que se decidia o prémio. E quando me disseram porque razão me tinham atribuído o prémio pela obra integral, senti-o de alguma forma como um aplauso, um sublinhado do caminho que já andei e que me obriga a continuar e a dizer: isto não é o fim, apenas um novo princípio.













Sem Comentários