Geovani Martins nasceu em Bangu, um bairro na zona oeste do Rio de Janeiro. Antes de se dedicar ao ofício da escrita, teve trabalhos temporários como homem-sanduíche, empregado de mesa ou ajudante em barracas de praia. Foi depois de participar em oficinas de escrita criativa na Festa Literária das Periferias (FLUP) e constar na programação da Festa Literária de Paraty (FLIP) que deu início à sua travessia literária, com a publicação de alguns contos em revistas que levaram ao lançamento de “O Sol na Cabeça”, um conjunto de histórias que nos mostra a textura da vida diária nas favelas, sempre entre a esperança e o desespero, mas onde o (des)humano está sempre na linha da frente.
A linguagem de rua é a dominante nesta colectânea – há mesmo um glossário para que o leitor não se perca -, num vocabulário que inclui palavras ou expressões como boladão, camelô, caxanga, andolar, esculachar, futum ou meter a nareba. As histórias parecem ser-nos contadas em voz alta, carregadas de oralidade e num ritmo sempre frenético, conduzindo-nos a um mundo violento e perigoso onde há crianças que trocam as bonecas por armas, polícias que se julgam os donos do mundo, bandidos que se divertem a roubar estrangeiros ou velhinhas dedicadas a desencantar a melhor macumba depois de a noite se instalar.
“Via Ápia” foi o livro que se seguiu, um primeiro romance com um espírito contista que mergulha numa favela carioca para nos narrar a história de cinco jovens, que tentam sobreviver num lugar onde a polícia não é de confiança e as amizades podem não passar de um momento fugaz mas, ainda assim, memorável.
Fomos ao baú e publicamos agora a entrevista que fizemos ao escritor brasileiro, realizada durante a última edição das Correntes d`Escritas.

Na página 63 de “Via Ápia”, descobrimos este pedaço de escrita que constrói uma espécie de ponte com o teu livro anterior: “…eu podia até que pegar no Galo mermo, que é do lado, colado ali no Poupatempo, mas vou te falar legal, sinceridade, eu prefiro andar com o sol na cabeça, dando moca, machucano, do que fortalecer aqueles alemão lá”. “Sol na Cabeça” foi o laboratório que te permitiu dar o salto para o romance?
Não o vi como laboratório, mas como o livro que poderia escrever naquela época. Tinha esse conjunto de histórias que me interessava, lembro-me de fazer listas com elas e tudo. Durante a escrita comecei a pensar numa unidade que ligasse esses contos, de maneira a que conseguisse apresentar algum conceito e não só uma junção de várias histórias. O “Sol na Cabeça” nasce assim como um livro conceptual de contos, pensando muito na relação que tenho com os discos. Gosto muito de ouvir discos e colecciono vinil, e para mim é muito importante a ordem das músicas – e isso é algo que liga estes contos. Não foi um laboratório mas acabou por ser uma escola grande enquanto escritor. Para além do sucesso comercial e financeiro que me trouxe, fez-me andar alguns passos no meu ofício da escrita. A ponte com a “Via Ápia” faz-se com algumas escolhas estéticas que trago, mas a relação entre eles é apenas de transição, são patamares diferentes. Sou um escritor jovem, tenho 31 anos, estou ainda longe da minha melhor forma e aprendendo bastante.
Quando nasceu o bichinho da escrita, e quando sentiste que poderias fazer disso um ganha pão?
Sempre tive o desejo de ser artista, desde criança. No princípio queria ser músico, compositor, cheguei a gravar algumas músicas. Durante muito tempo apostei nessa possibilidade. Sempre encarei os trabalhos que tive como algo temporário, tinha consciência de que estava sendo explorado e de que não iria aceitar isso para sempre. Foi algo que correu em paralelo com a minha carreira e o meu desenvolvimento artístico. Até há algum tempo atrás a música parecia ser a única possibilidade, até porque não entendia o que era o mercado literário, não sabia como eram as editoras, como um escritor fazia para se sustentar com a literatura. Tudo isso eu fui aprendendo aos poucos, a partir da minha participação na FLUP (Festa Literária das Periferias), em 2013, o primeiro lugar onde publiquei. Ali tive contacto com vários escritores, pude conversar com eles. A partir daí comecei a projectar-me como escritor, e as coisas foram acontecendo. Comecei a publicar em colectâneas, em revistas, ganhei alguns concursos. Era um escritor em ascensão apesar de não ter ainda qualquer livro publicado, sabia disso. Houve um momento em que deixei essa cena literária de lado, entre 2015 e 2016, justamente para escrever o livro.

No conto Estação Padre Miguel, lança-se a dúvida sobre se as amizades construídas na adolescência poderão sobreviver à idade adulta. Algo que atravessa, de certa forma, esta “Via Ápia”, onde um grupo de amigos vai tratando de sobreviver e de crescer, cada um à sua maneira. Na tua escrita parece ser importante esta celebração – e questionamento – da amizade.
Sim, acho a amizade uma coisa bem misteriosa. Sobretudo nessa fase da adolescência e de quando se é um jovem adulto, porque tudo é vivido com muita intensidade e algum mistério. Pessoas que você acaba de conhecer tornam-se parte da sua vida, tornando-se pilares fuundamentais daquele momento, e quando você passa dessa idade vê que muitas dessas amizades foram apenas para aquele momento, que não vão seguir a vida toda, mas ao mesmo tempo existe ainda um certo carinho. A amizade é algo que me fascina. Como duas pessoas conseguem se ligar de forma espontânea e se ajudar: financeiramente, emocionalmente, afectivamente. Como os meus livros têm uma grande dureza, uma grande raiva e tensões constantes, tento encontrar o equilíbrio com outras possibilidades de existência. A contraposição a essas tensões, a essa raiva, é por mim encontrada muitas vezes na amizade. É onde eu consigo descrever o afecto, a possibilidade de uma guarda mais baixa. A amizade de alguma forma me ajuda a dar nuances ao meu texto, na constante investigação desses laços não sanguíneos mas que podem ser eternos ou efémeros, pensando que cada amizade vai marcar uma época ou um momento da vida. Como penso muito em histórias polifónicas, a amizade ajuda-me também a amarrar os temas sobre os quais me proponho a escrever.
Ainda neste conto, encontramos uma frase que diz isto: “Uma semana sem drogas e o Rio de Janeiro para”. O que aconteceria se este cenário distópico virasse realidade?
Usamos drogas em todas as camadas da sociedade. Vivemos numa ditadura, no sentido em que nos dizem quais são as drogas permitidas e as que não são, as que são socialmente aceitáveis e as que não o são. Uma semana sem droga, da forma como eu o digo ali, seria uma semana sem ninguém poder comer açúcar, beber café, tomar remédios, cheirar cocaína, sem se poder usar qualquer alterador de consciência ou de humor. Acho que isso iria enlouquecer as pessoas. Se você tirar só o açúcar às crianças, seria uma semana bem louca. A proibição das drogas é algo bastante neoliberal, no sentido de estreitar possibilidades e criar uma sociedade às vezes sem muita capacidade de imaginação, de abstracção. A falta do consumo de algumas drogas tem atrofiado muitos cérebros, e o excesso de consumo de outras – como o açúcar, o celular ou as selfies – também. A forma como se valorizam algumas drogas e se descriminam outras tem criado uma sociedade mais anestisiada, menos imaginativa e com menos capacidade de empatia. Há drogas que nos deixam bastante abertos ao outro, como o LSD, o Ecstasy ou os cogumelos, ao contrário do álcool, que por vezes propõe um sentido de tribalismo meio esquisito. A maior parte da população mundial nunca irá experimentar qualquer um destes, nem sequer maconha – que vejo como uma herança humana que deveria estar ao acesso de todos. A proibição das drogas é um movimento pelo conformismo. Mas, neste conto específico, falo de uma semana sem qualquer droga, e essa ideia só fica na cabeça do leitor porque é completamente absurda.

Viveste a vida na favela no seu interior, algo que te permitiu partilhar a textura das suas vidas e lutas diárias, sempre entre a esperança e o desespero, mas onde o (des)humano está sempre na linha da frente. Como descreverias uma favela a quem nunca ouviu falar delas?
A favela é um microcosmos do Brasil, um organismo bastante complexo. Temos ali encontros de vários Brasis, existem várias classes sociais e credos. É algo tão complexo como qualquer outra cidade, no sentido da complexidade das possibilidades, das personalidades, das culturas e dos gostos pessoais. A única coisa que os une é alguma faixa de pobreza, mas nem isso é uma regra. Há gente que tem vinte casas e vive numa favela. É por isso difícil definir o que é esse espaço. Desde sempre que qualquer escritor foi influenciado pela vida que levou. A obra de qualquer artista passa pela maneira como ele enxerga o mundo, como aprende a assimilar valores, conceitos e ideias. Então o que é que é novo aqui? Que hoje pessoas de outras classes sociais, que não apenas das privilegiadas, escrevam livros. Essa é a grande mudança, e por isso também os livros mudam. Estamos falando de pessoas que constituíram as suas pesonalidades, os seus valores, as suas aspirações sob outra óptica, outro signo, outra identidade. Acho que sou igual a qualquer artista que veio antes de mim, no sentido de ser influenciado pelo meio de onde venho. A grande diferença é a de que o meio de onde venho é algo ainda recente na literatura brasileira.
O sonho de quem cresceu e vive numa favela é sair dela? No teu caso, custou-te deixar a favela?
Eu não deixei, frequento várias favelas do Rio de Janeiro até hoje. A minha vida, as minhas amizades, sobretudo os meus lugares de lazer, são aí. Vou aos bailes da rocinha, ou fumar em alguma vista, ou visitar um amigo, ou frequentar as praias. Tenho a minha vida social muito ligada a esse território, porque foi onde fiz as minhas principais amizades, onde me sinto muito à vontade. Agora a questão da mudança é uma questão de conforto. Não seria para mim aceitável uma pessoa que, como eu, consegue fazer uma renda suficiente, morar num apartamento que às vezes não vai ter água ou luz. A rocinha é um lugar que tem pouco espaço e muita gente. Hoje em dia é difícil encontrar uma casa que tenha mais que um quarto. Para mim seria difícil encontrar algo que se enquadrasse nos meus padrões de vida actuais. Mas isso não implica um afastamento do território. O que vi acontecer com muitos amigos, que viraram jornalistas ou artistas, foi que se mudaram depois de ter conquistado algumas conquistas sociais. A questão de estar dentro ou fora da favela para poder fazer algo transformativo prende-se mais com o entendimento que cada um tem do seu lugar na sociedade. Todas essas pessoas têm isso em comum. Desde cedo que se recusaram a ter a sua perspectiva limitada a um único território. A mudança vem dessa possibilidade do sonho, que é algo que eu tento trazer para os meus livros: personagens que tenham a possibilidade de sonhar, por menores que sejam esses sonhos.
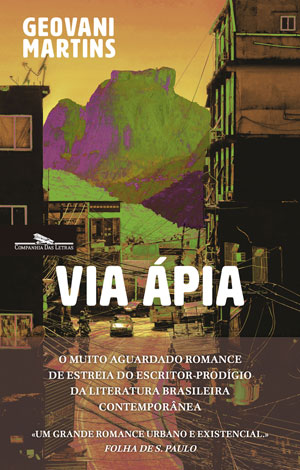
Nos teus livros, mais do que o racismo ou as questões coloniais, está presente uma guerra de classes.
Acho que existem várias camadas de discussão, e ainda não consegui pensar numa história em que conseguisse trabalhar todas elas. O nosso passado colonial, internamente, no Brasil, acaba servindo como uma forma de as pessoas muito ricas se ausentarem das suas responsabilidades. O que é uma aberração, porque a sua riqueza está nesse passado também. O Brasil é desigual mas é também um dos países com maior renda concentrada do mundo. O problema é que mais de metade dessa riqueza está na mão de umas 100 pessoas, a maior parte delas com nomes alemães, italianos ou espanhóis – o que é um sinal dessa herança colonial. Preferi falar directamente sobre a guerra da luta de classes nos meus livros porque, para além desse passado que precisamos de discutir entre as Américas e a Europa, a gente tem o nosso próprio passado. Existiu um processo de branqueamento do Brasil, que cresceu sob a perspectiva do lucro máximo, construído pela escravidão onde o trabalho braçal é quase uma ofensa. Nos meus dois primeiros livros, antes de falar com a Europa e com esse passado, preferi falar directamente com as classes que nos oprimem todos os dias, que são as classes dominantes brasileiras: os empresários, os proprietários, os bancários, os milionários. Essas pessoas poderiam, para começo de conversa, pagar vários impostos, terminando com muitas dessas aberrações tributárias e a manutenção de vários privilégios. Por isso preferi falar directamente com essas pessoas do que com os seus antepassados. Mas vou lá chegar ainda.
Outra presença assídua em “O Sol na Cabeça”, e que surge como central em “Via Ápia”, é a questão policial. A certa altura, Biel pensa nisto: “Não dá pra aguentar sem revidar uma porra dessa. Polícia colhe mesmo aquilo que planta”. A ideia de que a polícia brasileira é uma das mais violentas do mundo corresponde à realidade?
A polícia no Brasil não mudou nada desde o período colonial até hoje. É uma polícia que existe para proteger principalmente os proprietários, como também o faz o estado brasileiro como um todo. Ao mesmo tempo que essas pessoas se sentem protegidas pela polícias, todas as outras se sentem aterrorizadas. Todas essas incursões, essa violência, essas mortes, são um recado dessa polícia, defensora dos proprietários, como que dizendo que as pessoas não devem dar nem mais um passo desde o lugar onde estão.
E isso é independente de quem está no poder?
Sim, a polícia no Brasil age de forma independente. Há dias vi polícias usando máscaras com a cara do Bolsonaro. A polícia tem uma ideologia própria, foi durante muitos anos sendo moldada para servir de defea aos proprietários. Além disso, funciona também como um negócio para os próprios policiais. Grande parte das pessoas que entra para a polícia visa já participar nesses negócios e das receitas ganhas por fora.

A tua prosa parece estar destinada a ser lida em voz alta, tal é a carga presente de oralidade. Tentaste fazer música com a linguagem de rua?
A minha formação artística passa pela música. Ouço música todos os dias, presto muita atenção às letras desde criança. Comecei a fazer literatura pensando em música. Isso é uma parte. A outra é que sinto que faço parte de uma escola de contadores de histórias, uma escola longa que hoje em dia consigo ver com mais nitidez. Sou talvez a síntese do que o Brasil produziu no sentido étnico. Tenho antepassados africanos, tanto da parte da minha mãe como do meu pai; tenho antepassados portugueses, tanto da parte da minha mãe como do meu pai; e tenho antepassados indígenas por parte da minha mãe. A mistura dessas várias possibilidades étnicas está muito ligada à minha corrente sanguínea, assim como à figura do contador de histórias. A grande escola de vários afro-descendentes, antes dos livros, é a música. Os nossos livros de História foram os discos, de certa forma. Hoje sinto-me uma continuação desses contadores de histórias, e da sua relação com a oralidade.
A dado momento em “Via Ápia”, num Papo com Aline, Washington fala das suas inquietações, desejos e planos para o futuro: “…às vezes eu fico até bolado, tipo pensando, o que aquele menó, eu mermo, criança, ia achar da minha vida hoje?” O que é que a criança Giovani Martins iria achar do adulto que é hoje?
Acho que gostaria de me ver assim. A possibilidade de usar drogas psicadélicas, algo que faço com uma certa frequência, permite que consiga olhar-me com outras idades. Não só olhar para a narrativa que se constrói em dado momento da nossa vida, mas fazê-lo de uma forma honesta. Quem eu era naquele momento e porquê, no que é que pensava. Sinto que às vezes consigo aceder a esse lugar da infância, e acho que teria orgulho de mim vendo-me hoje. Estou-me tornando o artista que gostaria de ser, e isso é uma construção que vem sendo feita desde a infância.











Sem Comentários