Apesar de ter apenas dois livros publicados em Portugal – “Cloud Atlas – Atlas das Nuvens” (Dom Quixote e Editorial Presença) e “As Horas Invisíveis” (Editorial Presença) -, David Mitchell é um dos mais destacados escritores britânicos da actualidade, vencedor dos prémios literários John Llewellyn Rhys, Geoffrey Faber Memorial e South Bank Show e finalista do Man Booker Prize em 2004 e 2014 – além de a revista Granta o ter incluído na lista de Melhores Escritores Britânicos em 2003. Estivemos à conversa com o autor na última edição do LeV – Literatura em Viagem.
“Em todas as consciências existe, escondido algures, um interruptor para ligar e desligar“. Os seus livros são resultado de uma consciência inquieta, que perdeu o acesso ao botão de desligar?
Diria que não. São talvez o resultado de uma adição à narrativa, de quem gosta de escrever. Tenho sorte por a minha vida nunca me ter colocado num estado em que precise de desligar esse botão. Penso que a vida de um escritor que vive numa democracia não é realmente torturada por dilemas morais desse tipo. Sinto o dever de deixar o botão da consciência ligado, mas a narrativa tende de qualquer forma a ir nesse sentido, a encorajar a criação de personagens com dilemas morais e decisões difíceis a tomar, a criar um bom drama. Gosto da citação e da pergunta mas penso que não se aplicam a mim.
Em “Cloud Atlas” apresenta um curioso retrato sobre os crimes modernos: “Houve uma reacção de raiva que percorreu todos os compartimentos, embora nos nossos tempos os crimes não sejam cometidos por criminosos ali à mão de semear, mas pelas canetas dos executivos, bastante longe do alcance das multidões, nos edifícios pós-modernos de Londres feitos de vidro e aço. E, de qualquer forma, parte dessa multidão possui acções daquilo que desejaria pôr em pedaços“. Estamos todos nas mãos do grande capital, manipulados por fios invisíveis?
A cumplicidade e a má prática moral tornaram-se tão confusas e esbatidas que já não as conseguimos ver. Um pequeno exemplo tem a ver com as mudanças climáticas. Todos dizemos que são más, mas todos nós fazemos parte do problema: somos o inimigo. Mesmo aqueles que poupam energia e conduzem carros híbridos fazem parte do problema. As causas e os efeitos, mesmo para um especialista, são impossíveis de mapear. As nossas acções reflectem o bem-estar da espécie, todos somos cúmplices na exploração e na perpetuação das más práticas. Não sei quem foi a pessoa que fez a minha t-shirt, mas provavelmente terá sido alguém no Bangladesh que ganha e trabalha como um escravo. O que poderei fazer em relacão a isto? Não quero perpetuar um sistema de escravatura, mas preciso de uma t-shirt. E se calhar não tenho dinheiro para comprar uma a não ser numa loja que encomenda t-shirts do pior e mais manhoso armazém do Bangladesh. Como posso adquirir mais pureza numa situação destas? Como posso evitar suportar um sistema que explora outros seres humanos? Como posso ganhar isto? Poderá não haver uma resposta, mas é bom estarmos alerta sobre a própria cumplicidade. Não podemos passar a vida a bater com a cabeça dizendo que somos maus, mas ao menos que estejamos conscientes disso.
Nos pós-apocalipse que descreve em “Cloud Atlas” assistimos a um curioso reverso na ideia de distopia. Os clones fazem todo o tipo de trabalhos menores, as pessoas tomam drogas como maltesers para não envelhecer e os velhos são despachados em três tempos à boleia da eutanasium. As utopias de hoje são as distopias de amanhã?
O que são as utopias hoje em dia? Um sistema igualitário de distribuição, um sistema universal de saúde, um bom sistema de educação, estas são as minhas ideia de utopias. A mudança de hábitos ambientais, uma redução massiva das emissões de carbono, uma evolução populacional de modo a pararmos de procriar como coelhos e esgotar,os os recursos disponiveis, afastarmo-nos do que poderá ser uma dependência destruidora da religião. Para mim isto sao ideias utopicas, e que poderao soar como tal daqui a 500 anos. Penso que dependera sempre da ideia de cada um do que e uma utopia. A ideia de uma utopia para Donald Trump será muito diferente da minha, algo a que chamaria hoje em dia de distopia. Uma utopia hoje poder ser também uma distopia, dependerá sempre da perspectiva.
Holy Sykes é uma personagem fascinante, quase uma anti-heroína, muito pouco brit e que diz coisas como “o meu coração é uma cria de foca agredida à mocada”. Fica-nos a sensação de que se terá divertido ao construir esta personagem e a escrever “As Horas Invisíveis”.
Passei muito tempo com ela, cerca de 500 páginas. Acompanhei as suas diferentes fases, que mudaram bastante apesar da essência se ter mantido. Foi o ser humano mais complexo que criei e, não sendo do meu género, foi ainda mais desafiante. Fico contente quando gostam da personagem, sobretudo as mulheres. Vêmo-la como diferentes pessoas: como adolescente, como uma jovem mulher que vive um amor ambíguo, depois como uma mãe amargurada, casada com um parceiro amante das zonas de guerra, depois como viúva e improvável escritora de um bestseller, depois como uma mulher de meia-idade e guerreira acidental numa guerra louca em que ninguém acredita e, por fim, com um fim de vida que acompanha os últimos dias da civilização. Durante esta ultima parte do livro li alguns livros fantásticos para crianças de uma autora chamada Rosemary Sutclift, que publicou muitas coisas sobre o fim do império romano. Era uma classicista, que ficou em cadeira de rodas devido a um acidente, e todos os seus personagens estavam feridos e com deformações, tinham de combater no mundo de forma desigual – de certa forma são livros sobre deficiências. Nos seus livros sobre a queda do império romano vemos as luzes a apagarem-se e a escuridão a chegar, pressentindo a chegada da violência e o facto de a justiça, a ordem e a lei se tornarem luxos a que quase ninguém terá direito. Apenas os melhores combatentes sobreviverão. A minha cabeça estava cheia destes livros na última secção e, tal como a vida de Holy muda, também cada secção do livro é diferente, constituindo cada uma delas um mapa da sua vida.
Sobre o tema “I Dreamed I Saw St. Augustine”, Sykes diz isto: “É uma canção mais arrastada, tipo lamento dirigido à Lua, mas acabo por perceber o motivo pelo qual toda a gente tem uma admiração louca pelo Bob Dylan“. Como viu a atribuição do Nobel ao compositor norte-americano?
Achei fantástico, “Blood on the Tracks” é um disco incrível.
Mas vê-o como um escritor?
Foi um pouco esticado, mas eu próprio estico as coisas. Gosto de uma certa elasticidade nas fronteiras, pelo que seria hipócrita da minha parte criticar a escolha. São canções, mas são canções muito literárias.
Outra personagem fantástica neste livro é Crispin Hershey, que desperdiçou duas décadas a tentar ser o enfant terrible das letras britânicas e que, sobre os escritores americanos, diz que gostam todos uns dos outros. Não se passa o mesmo com os escritores ingleses?
Antes dos festivais e dos eventos literários os egos podiam ser maiores, mais elitistas. Havia o ideal do escritor com alguém solitário, inacessível, genial, infalível, um interlocutor do mundo moderno, homem e branco, pelo menos situado acima da classe média. Foi também algo perpetuado pelos próprios e maiores escritores – estou a evitar nomes de propósito – de então, que achavam que nunca deviam pedir desculpa ou concordar com algo porque eram os maiores. Crispin Hershey falhou nesse ponto. Julgo que na minha geração não somos assim (bem, talvez um ou dois).
Todo o livro é atravessado pela ideia de religião e, quando o mundo fica virado do avesso, esta surge novamente como a âncora da esperança. Como explicar isto?
Penso que por ser um antídoto para o desespero. Se rezares sentes-te menos desesperado, mesmo que não esteja ninguém a ouvir. Na grande maioria somos animais religiosos. Também temos de ser justos e pensar que em algumas partes do mundo a única ajuda chega da parte de pessoas religiosas. Por outro lado, a religiosidade só por si não é garantia de bom comportamento.
Durante todo o livro acompanhamos citações de Shakespeare e Dante. A certa altura e discorrendo sobre as diferenças entre os escritores modernos e os antepassados analógicos, pergunta-se onde estão as obras-primas deste século? Existem algumas?
Uma pergunta perigosa. Certamente que as há e que emergirão com o tempo. Penso que será a qualidade a garantir a sobrevivência.
Em 2046, para a sociedade comum, as lâmpadas valem ouro, os aviões voam apenas para as bases de petróleo ou da estabilidade, a Internet não funciona ou fá-lo com uma velocidade pré-banda larga, o metro de Nova Iorque foi engolido pelo mar, o ébola e a febre do feno estão em alta, as notícias são filtradas e censuradas, o perigo nuclear é extremo. Nem sequer existem lenços de papel. Estamos assim tão longe desta distopia?
Fukushima aconteceu e estará lá para sempre. É ainda hoje um desastre. Algumas das coisas dessa lista não estão próximas, são já uma realidade. O mundo que eu mostro é um mundo possível, um mundo paralelo que não está longe do nosso – mas que também não é inevitável.
Em ambos os livros termina com uma nota de esperança, ainda que atravessada pela melancolia. Parece quase a demanda de um ser solitário contra o mundo.
Não quero que o leitor chegue ao fim de um livro meu, depois de lhe dedicar dias de leitura, e se depare com a miséria. Claro que há sempre esperança, até temos provérbios para isso.
Foto: Murdo Macleod.
O Deus Me Livro esteve no LeV – Literatura em Viagem a convite da Booktailors.



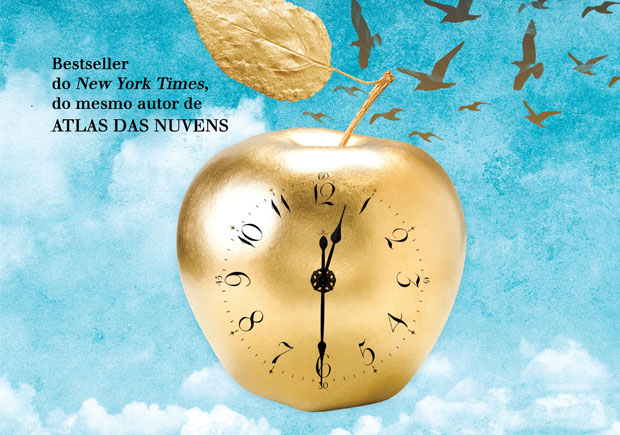









Sem Comentários