Nascido em Nagasáqui, Japão, no ano de 1954, Kazuo Ishiguro vive na Grã-Bretanha desde os seus cinco anos. Em 2017, em virtude da força emocional dos seus romances – bem como da sua capacidade de “revelar os abismos por trás da ilusória sensação de conexão com o mundo” -, recebeu o Prémio Nobel da Literatura, ainda que as comemorações e o entusiasmo popular estejam estado longe, por exemplo, da festa que teria sido montada caso tivesse sido o compatriota Murakami a levar para casa a taça.
Romance de estreia de Ishiguro – publicado originalmente em 1982 -, “As Pálidas Colinas de Nagasáqui” (Gradiva, 2019) conta a história de Etsuko, uma mulher japonesa divorciada que vive em Inglaterra, e que chora o suicídio recente da sua filha, perante um sentimento de indiferença instalado à sua volta: “Os ingleses gostam muito de pensar que na nossa raça o suicídio é quase um instinto, como se fossem desnecessárias mais explicações; porque essa foi a única notícia que deram – que ela era japonesa e se tinha enforcado no quarto”.
Um acontecimento que acaba por levá-la a reviver um distante Verão em Nagasáqui, quando ela e as amigas se esforçavam por reconstruir as suas vidas no pós-guerra. Uma dessas amigas dava pelo nome de Sachiko, em tempos uma mulher abastada, que passou a viver dos despojos de uma fortuna desaparecida, agindo como uma dama caída em desgraça, boicotando os seus próprios planos e repetindo, para quem a queria ouvir, não ter vergonha de nada do que havia feito na vida – ou do que ainda faria.
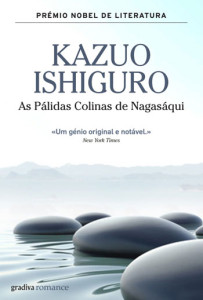 Sachiko tem como namorado um americano, perito na arte da mentira e da fuga, e uma filha pequena chamada Mariko, que trata com desprendimento e alguma negligência: não vai à escola, percorre os canais à noite sem vigilância e vagueia a seu belo prazer por uma cidade que é um espelho da ruína de uma guerra recente.
Sachiko tem como namorado um americano, perito na arte da mentira e da fuga, e uma filha pequena chamada Mariko, que trata com desprendimento e alguma negligência: não vai à escola, percorre os canais à noite sem vigilância e vagueia a seu belo prazer por uma cidade que é um espelho da ruína de uma guerra recente.
É à volta desta improvável amizade entre Etsuko e Sachiko que Ishiguro tece uma delicada intriga, com um toque de horror e de sobrenatural, um enigma literário de se lhe tirar o chapéu que apenas será desvendado nas últimas páginas – tenha o leitor perspicácia. Um livro que recua na linha temporal para mostrar o fosso cultural entre o Japão e os Estados Unidos – através do olhar de uma geração mais velha – e, sobretudo, a submissão a que a mulher estava sujeita, em tempos onde a disciplina e a lealdade eram, para muitos, mais importantes do que a ideia de uma democracia – ou de uma sociedade mais igual.
Nos diálogos encontramos, tal como nos livros para crianças, pensamentos que vão sendo repetidos como sonhos despertos, criando canções que estão perto do território da fábula, onde os antigos costumes vão sendo minados através de mantra importante mas, por vezes, alvo de hemorragias internas difíceis de estancar: “O que não se pode fazer é ver a vida passar inutilmente”. Um romance mágico onde quase nada é dito mas muita coisa é sugerida, cabendo ao leitor o papel de penetrar nas suas muitas e subtis camadas para de lá sair transformado. Caso o consiga, a surpresa vai ser de todo o tamanho.











Sem Comentários