O motor de “A Casa Ocupada” (Dom Quixote, 2022), primeiro romance da escritora Graça Videira Lopes, finalista do Prémio Leya em 2022, é isso mesmo — uma casa. Mais concretamente, um velho palacete situado na Rua da Junqueira.
A casa é apenas um dispositivo que a escritora usa como máquina do tempo: a narrativa desenrola-se por diversas épocas, desde finais do século XIX, com a inauguração do palacete, mandado construir pelo distinto José Anastácio dos Santos Rebelo — emigrante abastado no Brasil que resolve, em 1889, regressar a terras lusas, com os bolsos fartamente carregados.
Mas o grosso do relato transcorre no tempo presente, e centra-se no casal Júlia e Pedro, actuais habitantes do palacete remodelado, hoje em dia parte de um condomínio luxuoso. É a teia de relações deste casal que serve de matéria-prima à escritora para construir um romance intrincado em seu redor.
A perspectiva recua várias vezes para o século XX, pousando em diversos pontos desde os anos 40 até ao presente, à boleia do pai de Pedro, Álvaro de Brito, maoísta empedernido que se converterá, a seu tempo, às virtudes do mercado capitalista.
O leque de personagens compõe o retrato de uma certa burguesia endinheirada, afastada de qualquer preocupação material: do ilustre comendador José Anastácio ao casal de jovens economistas, passando pelos cunhados, Sofia e Jonas, e pelo Dr. Álvaro de Brito, filho de um latifundiário de Santarém.
Todos estão, de alguma forma, envolvidos em redes sentimentais que os tolhem e dilatam: o comendador republicano, por exemplo, sente-se obrigado a arranjar uma segunda mulher, por conta da crescente indisponibilidade da esposa, D. Geninha, em partilhar do leito conjugal — D. Geninha tinha-se “deixado engordar de uma forma que parecia mais vocacionada para o descanso do que para atividades físicas conjugais”; já Álvaro de Brito, viveu fascinado com a ligação clandestina a Teresa, tia de Jonas, nunca assumida mas muitas vezes consumada; Pedro e Júlia são consumidos pela aproximação às pessoas que os rodeiam, guardiões de histórias antigas e desejos recentes; Sofia e Jonas andam sempre às turras, por ela não querer abdicar da personalidade rebelde.
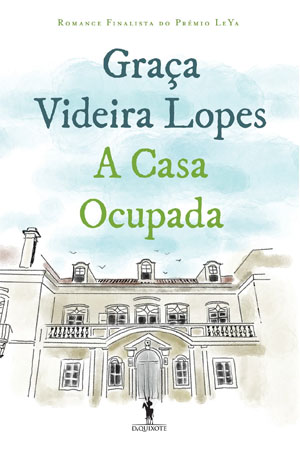
O tom do livro é, muitas vezes, irónico, provocatório e, em certos pontos, hilariante, com toda a pompa que envolve as descrições ornamentadas do século XIX, retratando uma moral sórdida muito duvidosa, em vestes de respeitabilidade — gritantes paradoxos que parecem invisíveis aos personagens.
Nestas histórias paralelas com muitos ecos entre si, ressaltam os contrastes na linguagem: ao registo irónico e emperiquitado da narrativa do Comendador contrapõe-se, por exemplo, o tom coloquial e descontraído das vozes de Sofia, Júlia e Jonas. Em alguns capítulos, fazem-se curvas apertadas para fábulas de mercadores árabes e palavras que congelam sobre o rio. Outras vezes fala-se de sagas islandesas, ou traduz-se poesia romana. Estas diversas aproximações, urdidas de uma forma hábil, e as frequentes mudanças de pontos de vista, contribuem para dinamizar a leitura e dar riqueza às personagens. Ao longo das várias cadências dos registos, uma coisa se mantém: a escrita competente, imaginativa e loquaz da autora. Um romance muito recomendável, que se lê de um fôlego.











Sem Comentários