Ilustrador, cineasta, músico, fabricante de cerveja, escritor. Homem dos (quase) sete ofícios, Afonso Cruz tem dado cartas na literatura portuguesa, quer na escrita de livros infantis, enciclopédias universais ou romances embebidos nessa coisa a que chamamos imaginação. Neste último campo foi recentemente lançado “Flores” (Companhia das Letras, 2015), um manifesto político com uma comovente história de amor lá dentro. Um livro que fala da memória e daquilo que resta de nós quando, de repente, a perdemos. O Deus Me Livro colocou algumas questões a Afonso Cruz. Assim como quem coloca flores numa jarra.
Este é um livro tremendamente político, com uma forte crítica política e social, seja ao sistema nacional de saúde – lê-se algures ter sido vítima de um bombardeamento massivo -, aos ministros – descritos como os maiores ladrões – ou ao número um do último governo – e provavelmente deste novo -, com apelido de animal fofinho, que sofre nestas páginas um ataque de proporções quase químicas – “O Coelho, pelo que sei, estava morto. Olhando para a políticas destes dias, diria que, apesar de todos os defeitos de um pide, morreu o coelho errado.” Como é que das flores se fez um manifesto político?
Não é propriamente um manifesto, até porque um romancista não tem de pensar como as suas personagens ou concordar com elas, apesar de neste livro elas serem muitas vezes a minha voz e partilharem as minhas ideias. Escrevi uma história que se passa nos dias de hoje. Senti que teria toda a pertinência falar de alguns dos problemas actuais, criticá-los, ainda que isso seja feito através da ficção. A parte dos ladrões é um facto etimológico, mas que por vezes, e lamentavelmente, se manifesta como uma realidade social.
Quanto da tua vida regou estas flores, que tanto significam morte como sexo, dedos ou palavras?
A nossa vida, enquanto escritores, é a nossa matéria-prima. Acontece que por vezes aparece de uma forma mais despida, outras mais ou menos tapada, mas o barro é o mesmo. Neste livro, há uma nudez um pouco maior do que nos anteriores, mas são detalhes, é como ver uma fotografia de um cotovelo: não dá para reconhecer nenhuma situação ou pessoa.
O livro passa a ideia de que a vida é um ciclo de repetições, uma espécie de herança, apelando para a necessidade da preservação da memória – a nossa e a dos que nos criaram. Será a memória uma das maiores invenções humanas?
Eu diria que é uma necessidade. Mas as repetições desaparecem da nossa memória, apesar de serem decisivas para formarem a nossa identidade. Quanto mais repetirmos um comportamento, mais facilmente somos caracterizados como alguém que se porta de determinada maneira. Mas a formação da identidade depende também da memória que os outros têm de nós, criando uma paisagem humana difícil de definir. Por outro lado, praticamente só recordamos momentos especiais, os que saem da rotina. Não são os que nos caracterizam, mas quando alguém nos pede para contar um episódio da nossa vida, são esses que nos lembramos e que descrevemos.
A música por vezes salva-nos, como a Orquestra Mnor fez com o narrador de “Flores”?
Acho que sim, a música tem uma capacidade especial para nos fazer mudar de humor. Em segundos, ou no tempo que dura uma canção, o nosso estado de espírito pode mudar radicalmente. E o mundo também. O universo é diferente quando o vemos deprimidos ou quando o observamos eufóricos. Ou quando estamos melancólicos ou quando estamos irados. Ao mudar de faixa num cd, podemos estar a salvar-nos e, se formos persistentes nas nossas visões, a salvar o mundo.
Como nos podemos esquecer do caixão que empurramos todos os dias?
Não sei se devemos esquecer. A recordação da morte dá sentido à vida. De certa maneira conseguimos validar as nossas atitudes. Se quisermos saber se determinada acção é realmente importante, basta confrontá-la com a morte iminente, pensar: será que eu faria isto se soubesse que morreria daqui a umas horas ou daqui a uma semana?
Quais são os teus objectos mais patéticos, aqueles sem os quais não passarias?
Não é muito fácil nomear os objectos que mais me entristecem e dos quais não prescindiria. Genericamente, posso comover-me com algumas músicas, bem como com alguns livros. Dificilmente imaginaria uma vida boa sem literatura e música, sem discos e livros. Mas alguns objectos, porque pertenceram a familiares ou amigos que já morreram, têm um enorme pathos na minha vida, e olhar para uma fotografia da minha mãe ou para uma dedicatória do meu avô, pode fazer desabar o dia.
Seremos mais felizes se abdicarmos das doses cavalares de realidade servidas nos noticiários e jornais impressos?
Acho que a informação é muito importante. Mas por vezes distorce a “realidade”. Quando temporariamente nos focamos num tema e somente num tema, o mundo passa a ser visto com essas lentes. De repente estamos no meio de uma pandemia, mas na semana seguinte, a voragem é o desemprego ou a violência nas escolas, um mês depois passa a ser uma intervenção pouco feliz de um deputado ou os preconceitos de uma figura pública, para mais tarde dar lugar a bombardeamentos no Levante. No meio de tudo isto, por vezes custa-nos definir prioridades e compreendê-las na sua dimensão, e aquilo que nos preocupa e afecta pode ser uma hipérbole ou mesmo uma caricatura da sociedade.
“Viver não tem nada a ver com isso que as pessoas fazem todos os dias, viver é precisamente o oposto, aquilo que não fazemos todos os dias.” O que andamos a negar à nossa existência?
Muitas vezes cedemos ao medo. Encontramos uma espécie de conforto, mas recusamos ousar, melhorar, experimentar. Se é importante um espaço conquistado onde nos sentimos bem, e isso só se faz com a rotina, por outro lado parece-me essencial o cultivo de momentos extraordinários, incomuns, novos. Tanto fisicamente quanto psicologicamente e racionalmente.
Depois de um livro onde faziam parte do título, encontramos isto em “Flores”: “Creio que o guarda-chuva é uma excelente invenção. Repare: não é um objecto que acabe com a chuva, é sim algo que evita a chuva individualmente. Não gosto dela, mas não acabo com ela, não a destruo. O guarda-chuva é uma filosofia que usamos no quotidiano. A água continua a cair nos campos, apenas evito que me estrague o penteado. É um objecto bondoso, que não magoa ninguém.” De onde te vem esta admiração pelos guarda-chuvas?
Por acaso, não uso, ou raramente uso. É um objecto que estamos sempre a perder, como as luvas, meias, óculos escuros, cachecóis, e isso serviu-me de metáfora para o título de Para Onde Vão os Guarda-Chuvas. Mas apesar de desaparecer com frequência, parece gostar de aparecer nos meus livros. Num livro que escrevi para crianças, Os Pássaros (Dos Poemas Voam Mais Alto), arriscou o protagonismo de se exibir na capa.
Neste livro fala-se com os mortos mas também com os espelhos, contendo estes últimos as personagens que vivem aprisionadas dentro de nós. Achas que nos tornámos todos demasiado iguais, quase globalizados, com medo de revelar aquilo que faz de nós únicos?
Para uma das personagens principais, o espelho é um espaço de crueldade, que lhe devolve a verdade, a sua vida arruinada, mas é também um espaço de imaginação e de esperança, de ambição e de concretização. Nesse aspecto, somos um equilíbrio entre aquilo que imaginamos para nós, entre o que fantasiamos, ou seja as possibilidades, a liberdade, o futuro, e o presente, que imediatamente identificamos com a realidade. E ainda o passado, com as nossas recordações, com as nossas memórias, com os nossos mortos. Da gestão destes três momentos depende a nossa individualidade.
Não creio que a globalização nos leve isso nem que estejamos mais ou menos indiferenciados do que éramos há uns anos.
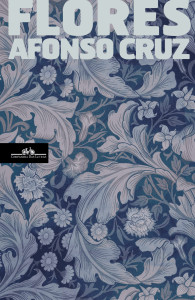 Quais as três palavras mágicas que o avô confiou ao protagonista que nunca deveríamos esquecer?
Quais as três palavras mágicas que o avô confiou ao protagonista que nunca deveríamos esquecer?
Não me lembro, mas, se tudo correr bem, um dia saberei sussurrá-las ao ouvido dos meus netos.
Não desistiremos, é algo que se lê de tantas em tantas páginas como uma espécie de eco. É este o grande apelo do livro?
Não é um apelo, mas sabendo que somos mortais, que a vida é fértil de injustiças e tristezas, ainda assim mantemos algum optimismo e vontade de mudar, de melhorar, e isso, acho, consegue-se com uma luta diária. Com tanta adversidade, desde a biologia à sociedade, parece-me que só nos resta negar a resignação, ou, como diria Dylan Thomas: Do not go gentle into that good night. / Rage, rage against the dying of the light.
Dá mesmo azar deixar chapéus em cima da cama? Ou serão as superstições meras desculpas?
Dá mesmo azar, especialmente quando usamos as superstições como meras desculpas.
Afinal, onde mora a espessura do mundo?
Em todo o lado. É sempre possível mergulhar, fazer uma viagem vertical.
Fotos: Paulo Sousa Coelho














Sem Comentários