O narrador de “Todos os dias são bons para roubar” (Quetzal, 2015) não se identifica. É um jovem adulto que regressa à terra natal – Lagos, Nigéria – após mais de uma década de crescimento pessoal fora do país, mais concretamente nos E.U.A. Tempo suficiente para ganhar uma hiperconsciência de tudo aquilo que vicia Lagos e a torna num submundo de esquemas para ultrapassar a incompetência dos governantes, bem como o desinteresse estrangeiro em pouco mais que o lucro desmedido do petróleo. O fosso abismal entre uma maioria pobre e uma minoria rica é aproximado pelo mercado paralelo e a corrupção, dos quais – aqui sem surpresas – os serviços públicos também são cúmplices. Todos pactuam com o sistema que faz compensar os míseros salários que são a constante seja qual for a profissão. “Basta-nos a aparência”. O mais importante não é que as coisas funcionem, mas que pareça que funcionam. Assim cresce Lagos.
Já o autor, por sua vez, é natural dos Estados Unidos, pese a ascendência e vivência nigeriana. É mais conhecido pela premiada obra “Cidade Aberta”, escrita em 2011. Teju Cole é um talento multi-facetado, destacando-se na escrita e fotografia. Retratos do quotidiano de Lagos complementam o texto de “Todos os dias são bons para roubar” (editado em 2007 na Nigéria e mais tarde exportado, na senda do sucesso de “Cidade Aberta”). O plano de comparação é a constante do livro, entre a Nigéria e o mundo para além dela, porventura como o dia e a noite. A questão que permanece na lucidez do narrador é se algum dia conseguirá voltar a estabelecer-se em Lagos. De tão mudado que está, até os compatriotas julgam a sua pele mais clara como branca. Justifica-se pela aparência de forasteiro, ainda que um forasteiro familiar. O que aproxima o narrador às origens é mais que o carinho que nutre pelos parentes próximos, tios e primos: é a esperança naquilo que interioriza como o lado bom da ocidentalização, desde a educação, a oferta cultural, passando pela remuneração digna do trabalho – no fundo, a construção de um estado social que ofereça dignidade e um nivelar de direitos entre cidadãos nigerianos.
Privilegiado até mesmo entre os habitantes de Lagos, com algumas regalias e mordomias que o cidadão comum não tem, o narrador quer se imiscuir no molde humano, de maneira a sentir tanto a inércia como, paradoxalmente, a mudança que se sente a olho nu, sejam cibercafés ou franchises de fast-food, até mesmo instituições culturais modernizadas, financiadas por privados, convidativas à elite da capital nigeriana. É o tal aproximar da Nigéria ao ocidente, mesmo que a passos curtos de se afastar de um brutal entorpecimento cultural potenciado pelo obscurantismo religioso. Transparece ao leitor a máxima da felicidade através da ignorância: quanto menos se sabe e mais se deixa nas mãos de deus, menor é o fardo da existência. E a Nigéria, mais propriamente Lagos, a sua maior cidade, tem um índice médio de felicidade tão alto que roça o ridículo. Esta descrença nos nigerianos faz-se sentir ao longo da obra, mas é atempadamente balançada com a sua grande temática: a transformação. Espelha o narrador, quiçá implicando uma atribuição de responsabilidade àqueles que abandonam o país, para que quando regressem tragam com eles a mudança. Ainda assim, a transformação não deixa de ser abordada pontualmente como uma miragem, potenciada pelo isolamento ideológico do narrador, como se a luta de um só por si fosse a luta de nenhum.
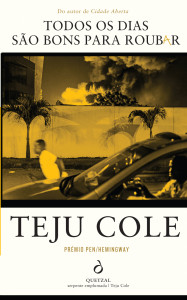 Cole é uma das vozes a seguir entre os novos e consagrados autores afro-americanos. Aliás, uma adenda: é um autor a seguir, independentemente da questão étnica. Aviva-nos na memória a obra de Taiye Selasi, embora o acessório que preenche uma parte considerável de “A beleza das coisas frágeis” (também parte da série serpente emplumada da Quetzal) não caracterize, de todo, o estilo de Cole. Este, por sua vez, tem um cunho mais intimista e alheio a enredos. Em termos de estilo, o seu minimalismo só não chega a ser cru por cruzar, com a frieza informativa – eficaz – de uma reportagem, uma linguagem literária recheada de símbolos. Daí que “Todos os dias são bons para roubar” seja precioso quando o autor alia ao discurso opinativo de cronista uma prosa rica em subtexto. São episódios aparentemente desconexos, personagens que entram e não repetem a aparição, que servem apenas o conceptualismo. Não nos suscita vontade de verificar factos e locais descritos na obra, de modo a apurar a verosimilhança da mesma. O ultra-realismo é tal que é fácil confiar no narrador, ou melhor, em Teju Cole. Seria fácil acreditar nele mesmo que nos mentisse.
Cole é uma das vozes a seguir entre os novos e consagrados autores afro-americanos. Aliás, uma adenda: é um autor a seguir, independentemente da questão étnica. Aviva-nos na memória a obra de Taiye Selasi, embora o acessório que preenche uma parte considerável de “A beleza das coisas frágeis” (também parte da série serpente emplumada da Quetzal) não caracterize, de todo, o estilo de Cole. Este, por sua vez, tem um cunho mais intimista e alheio a enredos. Em termos de estilo, o seu minimalismo só não chega a ser cru por cruzar, com a frieza informativa – eficaz – de uma reportagem, uma linguagem literária recheada de símbolos. Daí que “Todos os dias são bons para roubar” seja precioso quando o autor alia ao discurso opinativo de cronista uma prosa rica em subtexto. São episódios aparentemente desconexos, personagens que entram e não repetem a aparição, que servem apenas o conceptualismo. Não nos suscita vontade de verificar factos e locais descritos na obra, de modo a apurar a verosimilhança da mesma. O ultra-realismo é tal que é fácil confiar no narrador, ou melhor, em Teju Cole. Seria fácil acreditar nele mesmo que nos mentisse.











Sem Comentários