O que é um crítico? A pergunta já foi feita incontáveis vezes. E Truffaut, ao falar dos filmes da sua vida, também a enuncia, ainda que, certamente, sem a veleidade de lhe responder. Um crítico pode ser muitas coisas e, a acreditarmos num ditado hollywoodesco citado pelo próprio Truffaut, pode ser qualquer um: «todos têm dois empregos, o seu e o de crítico de cinema». Se tomarmos como ponto de partida o próprio Truffaut e a forma como partilha as suas convicções, intuições ou divagações, podemos constituir um retrato-breviário do crítico: ele pode ser apaixonado, confessional ou hiperbólico, livre, hipnótico ou consciente. No caso de Truffaut, dada a sua condição de espectador, crítico e realizador, será também heterogéneo.
Truffaut, como praticamente todos da sua geração, a dos Cahiers du Cinema e da nouvelle vague, era um cinéfilo. O amor profano (as mulheres, os vícios, as ideias) confundia-se com o amor sagrado (a sala de cinema, templo do culto cinematográfico). Escutemo-lo neste “Os Filmes da Minha Vida” (Orfeu Negro, 2015): «quando era crítico, pensava que um filme, para ser conseguido, devia expressar simultaneamente uma ideia do mundo e uma ideia do cinema. Hoje, quando vejo um filme, peço-lhe que expresse ora a alegria de fazer cinema, ora a angústia de fazer cinema, e desinteresso-me de tudo aquilo que estiver entre os dois, isto é, de todos os filmes que não vibram». Esta vibração é o vínculo visceral e passional que idealmente nos liga ao cinema e à arte.
Esse vínculo pode estabelecer-se de múltiplas formas. Não há uma via de acesso à experiência cinematográfica, pois ela tanto pode ser transcendente como imanente, poética como prosaica, casual como compulsiva: «ao contrário dos pequenos espetadores da minha idade, não me identificava com os heróis heroicos, mas sim com as personagens deficientes e, de forma mais sistemática, com todas as que erravam». Todos conhecemos o fascínio de anti-heróis e femmes fatales, e mesmo os vilões podem expor a nossa vulnerabilidade, fazendo-nos cair nos seus poderes de sedução – basta lembrarmo-nos da confidência de Hitchcock ao próprio Truffaut: quanto melhor o vilão, melhor o filme. O vilão pode ser tão hipnótico como a diva.
Da ordem da hipnose é igualmente a descrição que Truffaut faz da sua experiência de espectador, dessa espécie de imersão subconsciente, subsumida, intangível, em que entramos, em muitos dos melhores momentos, na sala de cinema: «entrar a pouco e pouco na intimidade de uma obra admirada até ao ponto em que se consegue atingir a ilusão de reviver a sua criação». O que nos é dado a experimentar neste caso é não apenas da ordem do reflexivo, mas reenvia-nos para uma dimensão quase uterina e poética: «eu sentia uma grande necessidade de entrar nos filmes e conseguia-o aproximando-me cada vez mais do ecrã para me abstrair da sala». Um transe, portanto, uma espécie de hipnose.
Esse transe pode conduzir ao mais indomável entusiasmo, e do entusiasmo à hipérbole vai um pequeno passo, aquele em que passamos do argumento para a intuição, do logos para o pathos, para usarmos os bons velhos termos aristotélicos: «não é o resultado de uma sondagem, mas um sentimento pessoal: Jean Renoir é o maior cineasta do mundo». Ora, perante tão peremptório juízo, nenhuma réplica se afigura razoável. Até porque, por vezes, a razão está do seu lado, tanto mais quanto tomemos – de forma resoluta e absoluta – o seu partido: «se não perceberem em que Abel Gance é genial, é porque não temos a mesma noção de cinema, sendo que a minha é, evidentemente, a boa». Outras vezes mantemos uma certa distância, por exemplo quando sentencia, a propósito dos filmes falhados, que a perfeição e o êxito são «abjectos, indecentes, imorais e obscenos» ou que «todos os grandes filmes da história do cinema são filmes falhados». Alguns sim, outros não. E será que «o mais belo nu feminino» se encontra em Dia de Cólera? E como atestar que «o crítico americano parece-me melhor do que o europeu»? Com cautela, naturalmente, a qual o próprio solicitou: «mas, ao formular esta hipótese, convido-vos a impedir-me de cair na má fé».
A hipérbole será com certeza uma arte em si, e Truffaut sabe que, como em tudo, também esta figura de estilo apenas se salvará se recoberta pela subtileza e a elegância. Mas a hipérbole é também um sinal de inestimável liberdade. A liberdade que encontramos sempre e só nas escolhas que fazemos. Pergunta Truffaut: «terei sido um bom crítico? Não sei, mas estou certo de ter estado sempre do lado dos vaiados contra os vaiadores e que o meu prazer começava muitas vezes onde acabava o dos meus colegas». O seu próprio cânone e panteão é o que cabe a cada crítico constituir, seja ele mais restrito ou mais plural: «eu sabia que, comerciais ou não, todos os filmes são comercializáveis, ou seja, são objeto de compra e de venda. Via entre eles diferenças de graus, mas não de natureza, e tinha a mesma admiração por Serenata à Chuva, de Kelly-Donen, e por A Palavra, de Carl Dreyer».
A liberdade do crítico pode exercer-se nas ou contra as mais diversas instâncias. Por exemplo: «continuo a considerar absurda e odiosa a hierarquia dos géneros». Não é caso para tanto, poderíamos dizer, já que a própria hierarquia dos géneros é mutante, e tirando os casos intemporais do drama e da comédia, muitos acabam mesmo por desaparecer ou refazer-se. E mesmo a atividade crítica vê o seu estatuto alterar-se ao longo do tempo, nos mais diversos contextos, sujeita a perigos e desvios também eles múltiplos. O próprio Truffaut disso mesmo se apercebeu: «parece-me muito mais difícil ser crítico de cinema hoje do que no meu tempo (…). Não conseguiria ver publicados agora os meus primeiros artigos». Num tempo de blogosferas efervescentes e crítica institucional em risco, seria hoje Truffaut um blogger ou um opinionmaker? Fosse o que fosse, a liberdade suprema é a que advém da compreensão simultânea dos limites e das virtualidades da crítica: «não devemos exigir de mais da crítica e, sobretudo, não esperar que funcione como uma ciência exata; uma vez que a arte não é científica, porque haveria de sê-lo a crítica?»
No conjunto de textos aqui reunidos (que vão de 1954 a 1975), temos um Truffaut heterogéneo: o espectador que todos somos, o cinéfilo que alguns são, o crítico que muitos se presumem e o cineasta que poucos se tornam. Dizemos heterogéneo porque, se é verdade que estas diversas dimensões convergem, elas são intrinsecamente irredutíveis: «o mesmo filme pode ser olhado de forma muito diferente conforme sejamos cinéfilo, jornalista ou cineasta». Reforcemos ainda mais a ideia da heterogeneidade e da irredutibilidade através das palavras do próprio: «vinte e três anos depois, continuo a amar o cinema, mas nenhum filme consegue ocupar o meu espírito mais do que aquele que estou a escrever, a preparar, a rodar ou a montar… terminou para mim a generosidade do cinéfilo, soberba e perturbadora a ponto de, por vezes, encher de embaraço e confusão aquele que dela beneficia». É esta experiência vasta e diferenciada do cinema que dá a Truffaut uma perspetiva privilegiada sobre a tensão inerente à crítica e à criação: «não há um único grande artista que não tenha um dia cedido à tentação de partir para a guerra contra a crítica», diz ele, para depois asseverar que tal contenda é, no seu extremo, estéril e injustificada.
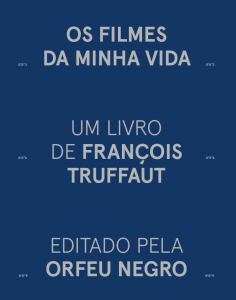 Mas se dissemos que Truffaut tem consciência da liberdade da crítica como princípio decisivo, ele revela igualmente, de modo constante, a consciência das exigências da mesma: «ao encorajar-me a escrever, Bazin fez-me um grande favor, já que a obrigatoriedade de ter de analisar um prazer próprio e descrevê-lo, se não nos faz passar, como uma varinha de condão, do amadorismo para o profissionalismo, traz-nos de volta ao concreto e acaba por situar-nos algures nesse lugar mal definido onde se situa o crítico». E tem consciência também de que as coisas mudam em volta do crítico, como este muda em relação às coisas: «os filmes tornaram-se mais inteligentes – digamos, mais intelectuais – do que aqueles que os veem, e precisamos muitas vezes do livro de instruções», diz ele. E mais adiante: «atualmente são poucos os filmes concebidos para o “grande” público, aquele que entra ao acaso numa sala de cinema». Constatações que ainda hoje nos parecem bem pertinentes. Como pertinente é a antevisão da fragmentação de públicos cada vez mais constatada na atualidade: «era muito mais fácil antigamente reunir a unanimidade da crítica e do público em torno de um filme. Em cada dez filmes, apenas um tinha algumas ambições artísticas, sendo saudado por todos».
Mas se dissemos que Truffaut tem consciência da liberdade da crítica como princípio decisivo, ele revela igualmente, de modo constante, a consciência das exigências da mesma: «ao encorajar-me a escrever, Bazin fez-me um grande favor, já que a obrigatoriedade de ter de analisar um prazer próprio e descrevê-lo, se não nos faz passar, como uma varinha de condão, do amadorismo para o profissionalismo, traz-nos de volta ao concreto e acaba por situar-nos algures nesse lugar mal definido onde se situa o crítico». E tem consciência também de que as coisas mudam em volta do crítico, como este muda em relação às coisas: «os filmes tornaram-se mais inteligentes – digamos, mais intelectuais – do que aqueles que os veem, e precisamos muitas vezes do livro de instruções», diz ele. E mais adiante: «atualmente são poucos os filmes concebidos para o “grande” público, aquele que entra ao acaso numa sala de cinema». Constatações que ainda hoje nos parecem bem pertinentes. Como pertinente é a antevisão da fragmentação de públicos cada vez mais constatada na atualidade: «era muito mais fácil antigamente reunir a unanimidade da crítica e do público em torno de um filme. Em cada dez filmes, apenas um tinha algumas ambições artísticas, sendo saudado por todos».
Por tudo isto, ler Truffaut hoje permite-nos viajar por uma parte significativa da história do cinema através de uma espécie de plano subjetivo privilegiado. Nestes textos podemos encontrar tanto o amor do cinema – inegável, desmesurado – como a vulnerabilidade da crítica, quando nos diz, por exemplo, que «a função da crítica é muito delicada nos nossos dias», afirmação que ganha ainda força maior na contemporaneidade. Daí que a pergunta inicial sobre o que é um crítico ecoe numa outra: para quê a crítica, ainda por cima se, como Truffaut defende, «um artista acredita sempre que a crítica está contra ele»? E se mesmo o público nem sempre é com ela convergente ou cúmplice? Verdade mesmo é que, seja qual for a forma, a crítica persevera, e Truffaut e a sua geração determinaram em grande medida o seu papel e o seu estatuto.











Sem Comentários