David Foster Wallace foi um escritor diferente, um acutilante pensador que extrapolava fronteiras morais e filosóficas com um encanto próprio e uma extrema capacidade de encontrar sentido (ou sentidos) onde, por vezes, a emoção ou a lógica se revelava ausente – ou tomada pelo poderoso fantasma do aborrecimento.
Estudante de Filosofia e Inglês, Foster Wallace – paralelamente a toda a sua vida – nunca escondeu a sua paixão pelo ténis, modalidade que lhe conferia uma espécie de equilíbrio para a existência, bem como para a sua expressividade literária.
Não sendo um escritor muito prolífero, deixou para a posteridade algumas das mais pertinentes obras que o último século teve a oportunidade de ler, entre elas o delirante, inovador e colossal exercício “narrativo” apelidado de “A Piada Infinita”. A par disso, ousou pensar a própria sociedade através de artigos jornalísticos, pensamentos e ensaios como “E Unibus Pluram: a Televisão e a Ficção Americana”, “Uma Coisa supostamente Divertida Que nunca mais Vou Fazer” e “Pensem na Lagosta”.
Apesar de um assinalável reconhecimento de público e crítica, David Foster Wallace nunca conseguiu ultrapassar o eterno estado depressivo que o assolava e desistiu da vida aos 46 anos.
Ciente que a genialidade de Foster Wallace não terminou com o último suspiro do autor e pensador, o seu editor norte-americano decidiu publicar o puzzle reflexivo deixado pelo homem natural de Ithaca, Nova Iorque, nascendo assim o projeto póstumo apelidado de “O Rei Pálido” (Quetzal, 2014), um romance que resulta de uma teimosa certeza de que algumas vozes não devem ser esquecidas. Este livro prova que é impossível separar a obra do seu autor e, no fundo, objectos literários assim não precisam de votos de simpatia, pois os seus méritos inatos são uma indiscutível mais-valia.
Mais do que o conceito de “obra-prima”, “O Rei Pálido” assume-se como uma espécie de reflexão interior que encontra eco em alguns manuscritos incompletos de Foster Wallace, ou em capítulos avulso de uma sentida noção de complementaridade patrocinada por uma lógica interna que cimenta a conectividade entre letras, palavras, frases e ideias.
A linguagem de David Foster Wallace em “O Rei Pálido” é metafísica. Definições de felicidade, conformidade e gratidão são facilmente confundidas (ainda que não gratuitamente) com a máquina aniquiladora do aborrecimento e dos seus efeitos sobre a alma.
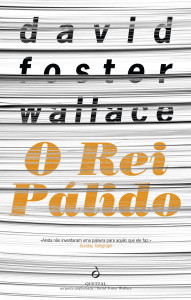 As páginas fluem de forma sublime onde uma análise abstrata captura a atenção do leitor, qual hipnose. Alguns “personagens” crescem sob uma onda de pânico cujo diálogo interior ganha contornos alucinatórios enquanto tentam, desesperadamente, acelerar a velocidade dos minutos. Em outros momentos, simples paragens no intenso tráfego podem ser sinónimo de monólogos que refletem a pertinência do sistema de impostos ou a filosofia de vida norte-americana, que parece fruto de um megalómano jogo de sociedade onde a ansiedade extrema é um “prémio” mais que garantido.
As páginas fluem de forma sublime onde uma análise abstrata captura a atenção do leitor, qual hipnose. Alguns “personagens” crescem sob uma onda de pânico cujo diálogo interior ganha contornos alucinatórios enquanto tentam, desesperadamente, acelerar a velocidade dos minutos. Em outros momentos, simples paragens no intenso tráfego podem ser sinónimo de monólogos que refletem a pertinência do sistema de impostos ou a filosofia de vida norte-americana, que parece fruto de um megalómano jogo de sociedade onde a ansiedade extrema é um “prémio” mais que garantido.
Com uma magistral e moderna arte de escrever, Foster Wallace alia sentimentos como o tédio, a esperança e o desespero em um todo paradoxal e poderoso que encontra paralelismo numa realidade desconfortável mas mágica pois, a medo, o autor de “A Piada Infinita” parece confessar ter descoberto – ou andar lá muito perto – uma alegria frenética, embora desgastante, face à observação (claustrofóbica e) rigorosa da vida.
Depois de ler algo como “O Rei Pálido” é aconselhável ao leitor um período sabático, um hiato que vai permitir um saudável regresso à leitura de romances normais, com enredos e personagens principais reconhecíveis. Este livro de Foster Wallace é tão fascinante e único que está para além da noção de comparável, pois habita na sua própria estratosfera e é, sem dúvida, uma excelente forma de match point literário.











Sem Comentários