Não tiremos conclusões precipitadas do facto de a morte do capitalismo não ter sido demonstrada por Marx. Os regimes podem morrer sem terem sido condenados à morte pelos teóricos.
Raymond Aron
Raymond-Claude-Ferdinand Aron (1905 -1983) foi, talvez, o filósofo-social e cientista político francês que com maior profundidade e isenção fez a crítica dos regimes totalitários do Século XX. Influenciado por Max Weber e amigo de Jean Paul Sartre (uma amizade ideologicamente improvável), Aron disparou com igual acutilância para todos os lados e foi crítico dos fascismos e dos seus intérpretes tanto como de Estaline, quando no seu país a vanguarda intelectual o considerava um herói. A sua obra mais conhecida e polémica, “L’opium des Intellectuels” (1955), argumenta que se a religião é o ópio do povo, o marxismo é a droga dura dos intelectuais. Tanto mais que as características dogmáticas do marxismo levavam a intelligentsia francesa a criticar com virulência o capitalismo e a democracia ocidental e, simultaneamente, a calar a intolerância, a opressão e as atrocidades dos regimes comunistas do bloco de leste. O pensamento político de Raymond Aron é de tal forma incisivo, lúcido e independente que influenciou transversalmente as gerações posteriores, deixando marcas nas obras de autores tão diversos como Hans Morgenthau, Zbigniew Brzezinski e Henry Kissinger.
Em “Karl Marx” (D. Quixote, 2015), um ensaio crítico sobre o pensamento do mais proeminente e prolixo dos filósofos-sociais da história da humanidade, Aron procura desmontar os equívocos, os mitos, as contradições e as fragilidades do marxismo, num registo de rara objectividade e clareza de linguagem que torna a obra muito acessível e – de certa forma – universalista. Marxistas ou anti-marxistas, leigos ou académicos podem mergulhar com descontração nestas 150 lúcidas páginas: as suas convicções ideológicas não serão aviltadas. E o nível da sua erudição não influirá no entendimento do discurso, que é limpo de complicações escolásticas e pretensões estilísticas.
O ensaio foi escrito nos anos 60 e é legítima a pergunta: até que ponto é pertinente a edição actual de um ensaio sobre o marxismo que foi escrito no apogeu da guerra fria, vintes anos antes da queda do Muro de Berlim? Curiosamente é o próprio autor que responde a esta pergunta, lá do fundo do século XX: a evolução e o desenvolvimento regimental do marxismo não é o tema de foco da obra. Raymond Aron está essencialmente interessado em equacionar a teoria de Marx e não a praxis do marxismo. Por outro lado, se pensarmos que o pensamento de Karl Marx está profundamente enraizado na teoria económica actual, fenómeno bem manifesto no recente e já célebre trabalho de Thomas Picketty (O Capital no Século XXI – Temas e Debates, 2014), percebemos que a presente edição da D. Quixote não só é pertinente como necessária.
O ensaio integra três segmentos estruturais. Inicia-se com a articulação do pensamento do sociólogo alemão conforme está expresso nas suas três obras fundamentais (“Manifesto do Partido Comunista”, “Uma Contribuição para a Crítica da Economia Política” e, claro, “O Capital”). À articulação do modelo marxista, seguem-se os dois capítulos da crítica, que se dedicam à exposição dos seus equívocos filosóficos e sociológicos.
O pensamento de Karl Marx
No “Manifesto do Partido Comunista”, a história universal é o produto de uma constante e imanente luta de classes, o capitalismo é antagónico e autofágico e a revolução que levará à supressão do capitalismo e das classes será obra inconsciente mas efectiva dos próprios capitalistas. Porque só duas classes têm poder para mudar o mundo – os capitalistas e os proletários – e porque o capitalismo promove o aumento desvairado de proletários miseráveis, o sistema condena-se a si próprio.
Já em “Uma Contribuição para a Crítica da Economia Política”, Marx faz notar que os homens em sociedade entram em relações que lhes são necessárias, mas independentes da sua vontade. Esta obrigação ao papel social explica a tensão imanente entre forças de produção e relações de produção, que conflituam na infraestrutura das sociedades (aparelho industrial, capitalistas e operários). Deste conflito resulta um outro: se as relações sociais na infraestrutura primam pela obrigação, pela exploração do trabalho, pela necessidade e pela entrega não voluntária do homem a um determinado jugo, os mandatos das superestruturas ocidentais na segunda metade do século XIX (instituições politicas e jurídicas, mentalidades, ideologias e filosofias) advogam um sistema de valores universais que privilegiavam a supressão dos totalitarismos, a liberdade e dignidade do indivíduo e a sua igualdade perante a lei e perante deus.
Seja como for, a mola do movimento histórico é a contradição entre as forças e as relações de produção, que resulta na luta de classes e, eventualmente, na revolução, que não é, assim, fruto da política mas da necessidade histórica.
“O Capital”, para Raymond Aron, é um livro de economia, uma “sociologia do capitalismo” e uma história da filosofia. «É uma tentativa grandiosa. Mas que não resultou.» O autor, porém, desvaloriza o fracasso: na verdade nenhuma tentativa desta magnitude, nenhum trabalho com esta ambição sistematizadora foi alguma vez bem sucedido, na grande odisseia de esforços vãos que é a história das ideias.
Em linhas gerais, a opus magnum de Karl Marx procura demonstrar que o capitalismo assenta na busca do lucro e que esse lucro é imoral, porque a variável trabalho é o único elemento quantificável da mercadoria. É a sua única mais-valia. E é desta constatação que resulta a célebre Teoria da Exploração – o lucro é a diferença entre o valor do trabalho e o valor do produto porque este não tem outro valor acrescentado. Se a troca entre o capitalista e o trabalhador fosse justa, não havia margem para lucro. Depois de Proudhon, 30 anos antes, declarar que a propriedade era um roubo, Marx afirma que o lucro é, também, uma pirataria.
Sabemos hoje muito bem que a mercadoria, o produto de consumo, integra mais valor que apenas aquele que é consubstancial ao trabalho do operário. A mecanização industrial e, mais recentemente, a robotização, a qualidade da gestão, a responsabilidade social e ambiental, o marketing, o comércio electrónico, são, só para citar algumas variáveis, mais-valias importantes no quadro do capitalismo contemporâneo, embora ainda hoje exista uma certa ortodoxia marxista que recusa a desconstrução da matemática de Karl Marx.
Ainda assim, anuncia-se em “O Capital” o apocalipse do capitalismo. Porque o mecanismo concorrencial de uma economia baseada no lucro tende para a acumulação de capital, para a mecanização da produção e para a redução da parte do capital variável no capital total, a diminuição das margens de lucro é inexorável, tornando cada vez mais difícil o funcionamento de uma economia inteiramente centrada na intenção de criar liquidez financeira. A consequência deste raciocínio leva-nos a um cisma bem actual: para os liberais, se cada um trabalhar no seu próprio interesse, trabalha no interesse de todos e para o desenvolvimento do modelo capitalista. Para Marx, se cada um trabalhar no seu próprio interesse, estará a contribuir necessariamente para o empobrecimento da maioria, o enriquecimento de uma minoria e a falência do sistema capitalista.
Os equívocos da filosofia marxista
O primeiro problema da filosofia de Karl Marx decorre da relação profunda que mantém com Hegel e da inversão que propõe do idealismo dialéctico para o materialismo dialéctico. Enquanto os marxistas tendem a materializar o idealismo do célebre filósofo alemão, os anti-marxistas idealizam a sua filosofia de tal forma que Marx é visto como uma Nemesis de Hegel. Na verdade, o sistema hegeliano interessa a Marx principalmente no sentido em que o carácter enciclopédico do idealismo dialéctico leva a filosofia ao seu termo, já que pensou o todo da história e o todo da humanidade para chegar à vocação universal do homem. Mas o homem, depois de tomar consciência da sua vocação, não a realizou. Para Marx, há que saber em que condições pode o curso da história realizar a vocação humana tal como a filosofia de Hegel a pensou. E é por isso que anuncia que o tempo de pensar a sociedade acabou. Trata-se agora de transformá-la.
Isto porque a sociedade impede teimosamente o indivíduo de realizar a sua vocação universal, dada a contradição entre o eleitor, que é livre, e o trabalhador, que é subjugado. As liberdades políticas têm que ser transportadas para a vida económica, já que o capitalismo aliena o homem. Para que o homem possa realizar-se é necessário superar essa alienação. É necessário que o trabalho não seja um meio de subsistência mas a expressão do potencial humano. O homem total não pode ser escravizado à função económica nem especializado em actividades repetitivas e estupidificantes. Ao contrário, deve ser versado em múltiplas tarefas que exponenciem os seus múltiplos talentos. Esta visão, demasiado idealista para um materialista do século XIX, é também, na análise de Raymond Aron, sintomática de uma crítica ao capitalismo que, antes de ser científica, sociológica ou económica, é essencialmente moral.
Além disso, Aron pergunta-se: o homem total realiza-se pelo trabalho ou pela leitura de Platão? Marx fala nas duas formas de libertação do potencial humano, mas estas serão sempre antagónicas, partindo do princípio razoável que ler Platão não transforma o ferro em aço e que a metalurgia não nos ensina as subtilezas da Alegoria da Caverna. Sabemos hoje que os regimes comunistas, por mera questão de bom senso, não ilustravam os operários na filosofia clássica nem esperavam que os intelectuais comandassem as fornalhas da indústria e é por estas e por outras que é difícil imputar apenas ao capitalismo a não realização de todo o potencial do indivíduo.
Quanto à natureza da lei histórica marxista, também ficam dúvidas: na interpretação objectivista de uma inevitabilidade da queda do capitalismo, este sistema será destruído pelas suas contradições intrínsecas, mas Marx nunca nos diz quando ou como. Ora, se abrimos os parâmetros desta forma, é muito fácil profetizar seja o que for. Qualquer um pode prever, com mais ou menos rigor, um apocalipse zombie, se evitar propor uma data para o evento e esconder a natureza do mecanismo viral. Se, pelo contrário, propusermos um Interpretação dialéctica do devir histórico (que Marx também deixa em aberto) – em que o sujeito pensa a história em função da sua situação na sociedade – esta leitura não leva necessariamente à revolução. Para demonstrar esta tese basta dar como exemplo os movimentos reaccionários protagonizados pelo campesinato na Inglaterra do século XVII e na França do fim do século XVIII.
Os equívocos da sociologia marxista
Também a sociologia marxista, na óptica de Raymond Aron, padece de conflitos irresolúveis. Por exemplo, se a luta de classes se atenuar com o desenvolvimento das forças de produção capitalistas ou se houver propriedade colectiva numa economia pouco desenvolvida, o dogma implode. E a história recente está repleta de exemplos que são verdadeiras cargas de dinamite. Será difícil ao operário alemão contemporâneo, que se desloca para a sua fábrica de Audi A4 e que tem os filhos na faculdade, identificar-se com o determinismo social que lhe propõe o pai do socialismo.
A indefinição entre certas características das superestruturas e das infraestruturas também pode gerar equívocos e aliviar as tensões de que Marx necessita para a validação do seu pensamento. O conhecimento científico fará, em princípio, parte integrante de uma dada superestrutura social. Mas é a ciência que possibilita os avanços técnicos na indústria e a actividade industrial pertence ao âmbito infraestrutural. Neste caso não observamos nem uma divergência nem um antagonismo. Uma variável superestrutural influi e desenvolve uma variável infraestrutural. E mistura-se com ela.
A confusão entre forças e relações de produção é também outro dos factores polémicos do sistema marxista. Quando os operários são accionistas da empresa para a qual trabalham, ou quando as empresas estatais são sócias de empresas particulares em certos negócios e projectos (as tristemente célebres parcerias público-privadas de que falamos em Portugal), o pensamento marxista perde uma boa parte da sua consistência. No caso das empresas de capital anónimo, a grande força do capitalismo contemporâneo e do desenvolvimento económico, as diferenças entre forças de produção e relações de produção esbate-se dramaticamente, tanto mais que este modelo micro-económico demonstra que o desenvolvimento das forças de produção não elimina o direito da propriedade.
Raymond Aron denúncia também aquilo a que chama o “Mito da ascensão do proletariado”: «Para mantermos a semelhança entre a ascensão da burguesia e a ascensão do proletariado, é necessário que sucessivamente Lenine, Estaline, Kruchtchev e Brejnev sejam o proletariado». É que, se no caso da burguesia, são os burgueses que são os privilegiados, são eles que dirigem o comércio e a indústria, são eles que governam; quando o proletariado faz a sua revolução, são os homens que reclamam representar o proletariado que dirigem as empresas e indústrias e que exercem efectivamente o poder. «A ascensão do proletariado não pode ser comparada, senão por meios de uma mitologia, à ascensão de uma burguesia» e esse é o erro central, evidente, de toda a visão marxista da história. Ainda hoje nos podemos perguntar se o regime soviético constituiu uma ditadura do proletariado ou uma ditadura sobre o proletariado.
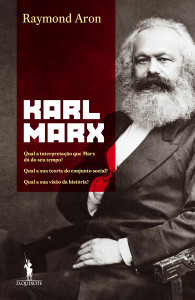 Acresce ao complexo de equívocos, uma objecção de ordem lógica: para Marx, a verdade sociológica é uma questão de classe, embora só a classe dos proletários detenha objectivamente e em absoluto esse dom. O problema é que, se cada classe social tem uma verdade, nenhuma tem a Verdade. Em que é que uma ideologia é superior a outra a partir do momento em que todas as ideologias são inseparáveis da classe que as concebe ou adopta?
Acresce ao complexo de equívocos, uma objecção de ordem lógica: para Marx, a verdade sociológica é uma questão de classe, embora só a classe dos proletários detenha objectivamente e em absoluto esse dom. O problema é que, se cada classe social tem uma verdade, nenhuma tem a Verdade. Em que é que uma ideologia é superior a outra a partir do momento em que todas as ideologias são inseparáveis da classe que as concebe ou adopta?
Raymond Aron termina a sua crítica com uma questão interessante, embora desfasada do objecto confesso da sua obra (criticar a teoria e não a prática do marxismo). Se Marx pudesse avaliar a praxis totalitária dos regimes comunistas (sovietes e maoístas) e compará-la com a variação socialista e tendencialmente igualitária, mas não ditatorial, dos regimes do norte da Europa, qual preferiria? O autor desconfia que Marx viveria melhor com o modelo escandinavo. Até considerando que o génio alemão chegou a afirmar, num assomo socrático de surpreendente humildade: «tudo o que sei é que não sou marxista».











Sem Comentários