“Sede felizes; o inferno é aqui.”
Strindberg
É imperativo iniciar esta breve recensão com uma advertência: “Inferno” (Sistema Solar, 2015) será, muito provavelmente, um dos livros mais estranhos – e arrepiantes – alguma vez escritos. Não diga portanto o gentil leitor que não foi devidamente avisado. Daqui para a frente, está por sua conta e risco.
Dramaturgo, novelista, poeta, ensaísta, pintor, teósofo, químico, alquímico, botânico, telepata, espiritualista e feiticeiro, Johan August Strindberg (1849 – 1912) é um daqueles personagens da literatura que faz feliz qualquer biógrafo. Criativo errante e insano, multi-facetado e sobre-dotado, ateu e deísta, protestante e católico, blasfemo e devoto, romântico e naturalista, socialista e niilista, criatura avant-garde no sentido literal e lato, o célebre sueco é de tal forma um protagonista da sua própria literatura que até a demência que o afectou durante largos anos da sua existência é, por muitos críticos, considerada uma figura de estilo.
“Inferno” é o relato auto-biográfico, embora também – em certa medida – ficcional, do exílio em Paris e da errância posterior, abrangendo um período que pode ir de seis meses a dois anos da vida do autor (dependendo da perspectiva com que se lê a obra), algures entre 1890 e 1895. O itinerário inclui uma inúmera quantidade de hotéis e cemitérios, cafés e hospitais, cidades e vilas, solares e hospícios, onde o ilustre dramaturgo é constantemente confrontado com o mal absoluto e demoníaco, a morte putrefacta e a podridão escatológica (as sanitas perseguem-no, os esgotos acompanham-no e a decomposição universal manifesta-se num festival fedorento de excrementos omnipresentes).
Apesar de tudo, Strindberg mantém a bom nível performativo a superstição científica, que lamentavelmente o caracteriza: tenta convencer-nos que a borboleta-caveira (Acherontia atropos) deve a sua imagética ao facto de se alimentar de «alcalóides vegetais aparentados com a morfina mas muito próximos de venenos cadavéricos.» A tese desenvolve o argumento espantoso que o insecto é atraído pelo cheiro a mortos e a decomposição, pelo que procura os cemitérios, as lixeiras e as imediações dos cadafalsos e das forcas, onde observa crânios humanos. Estas imagens tenebrosas actuam sobre os «nervos da borboleta», que é bastante impressionável e somatiza o horror numa representação biológica para-darwiniana que dá vontade de rir. Também é cómica – se não fosse trágico-cómica – a sugestão de que um touro que perdeu a cauda ao entalá-la na porta do estábulo poderá gerar uma raça bovina sem rabo.
Mas há mais ciência mística: o enxofre, por exemplo, tem forçosamente que integrar o carbono (e Strindberg afirma que o encontrou), mesmo depois de Lavoiser ter demonstrado, duzentos anos antes, que se trata de um elemento químico e não de um composto. O mesmo acontece com o ouro, que o autor acredita ser um composto de enxofre e ferro, contra tudo o que nos ensina a tabela periódica (o ouro nem sequer faz parte do mesmo grupo de metais que o enxofre). Também nesta circunstância o alquimista impenitente chega a acreditar que de facto fabricou a substância áurea, no seu laboratório de Panoramix.
Aliás, para Strindberg, incondicional amante do absinto, a realidade é transformista: vê perfeitamente duas mãos em prece no embrião codiforme de uma noz, gnomos e duendes nas pedras de carvão, divindades satânicas nos móveis do quarto e nas carcaças dos caranguejos. Zeus deita-se na sua cama e o travesseiro desenha gárgulas, monstros, dragões. Por seu lado, vá-se lá saber porquê, os cães raivosos assemelham-se a dinamarqueses. Mas não é só a realidade física que constantemente se transmuta em novos horrores. Como uma espécie de Ovídeo ao contrário, o narrador desdobra-se na mesma medida em alterações da metafísica: «Todos os antigos deuses se transformaram na época seguinte em diabos. Os habitantes de Olimpo transformaram-se em demónios: Odin, Thor, o diabo em pessoa. O Portaluz Prometeu-Lúcifer degenerou em Satanás. Cristo (…) ter-se-á transformado (…) em demónio.»
Neste caldo fundamental de deuses e diabos em metamorfose para todo o sempre, a vida – essa grande teoria da conspiração – é preenchida penta-dimensionalmente por premonições, pesadelos, visões, indícios, revelações, sinais e suspeitas. A própria bíblia é um oráculo na valsa da loucura e, uma simples vela que perde um simples pedaço de cera, anuncia logo e por certo uma morte na família. Quando, depois de várias semanas encobertas por um espesso manto de nuvens, surge um raio de sol que ilumina a sala, essa luz fortuita não se pode dever ao acaso: é um sinal, um milagre, um apelo do todo poderoso. O Eterno falou.
Em Paris ou em Lund, na taberna ou com a família, Srindberg está rodeado de inimigos. Russos, devotos, católicos, jesuítas, teósofos, druidas, médicos, demónios visíveis e invisíveis, fúrias, potências, espíritos, donos de hóteis, médicos, polícias e ladrões, transeuntes e estranhos, todos são suspeitos – e muito especialmente os electricistas. A electricidade, para o autor sueco, tem super-poderes; levanta facas e ameaças, possui sexualmente a alma, é um verdadeiro incubo, para o qual não há exorcismo conhecido. Seja como for, metade da população mundial quer assassinar o autor por acusações de feitiçaria e, a outra metade, por insinuações de magia negra. E não que o bardo sueco seja completamente inocente: segundo ele próprio admite, basta-lhe escrever uma carta a um astrónomo para que o desgraçado pereça uns dias depois.
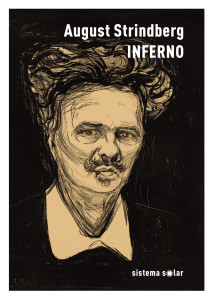 O perspicaz leitor já percebeu de certeza que o auto-biografado sofre de desvios esquizóides como a mania da perseguição. De facto, Strindberg parece ser vítima de uma quantidade exuberante de patologias de ordem físico-química, reais e imaginárias. Nada mais nada menos que paranóia, neurastenia, esquizofrenia, hipocondria, electrofobia, insónia, angina de peito, enfisema e psoríase.
O perspicaz leitor já percebeu de certeza que o auto-biografado sofre de desvios esquizóides como a mania da perseguição. De facto, Strindberg parece ser vítima de uma quantidade exuberante de patologias de ordem físico-química, reais e imaginárias. Nada mais nada menos que paranóia, neurastenia, esquizofrenia, hipocondria, electrofobia, insónia, angina de peito, enfisema e psoríase.
Apesar do seu delicado estado de saúde e da ainda mais periclitante condição financeira, não encontrando sequer consolação no reencontro com a sua família, o infeliz acaba até por ser expulso pela mãe, nestes termos lapidares: «Vai-te embora, meu filho, estou farta deste cheiro a Inferno.»
Sob o signo de Emmanuel Swedenborg, o «buda do norte», místico, cientista e teólogo do século XVII, será talvez possível a redenção, o remédio contra a demência, a claridade. Mas o grande turbilhão das divindades – e o vácuo que cria na consciência -, a miséria e o mistério aconselham à resignação. No fim, uma temporária conversão ao catolicismo e a vaga e impraticável hipótese de retiro num mosteiro belga, mesmo assumindo cristo como um falso profeta. No fim, a interminável espera por um cheque da Academia Sueca, que não vai chegar nunca. No fim, como no princípio: o abismo e as trevas.
Perante o inferno de Strindberg, até Dante parece um menino de escola.

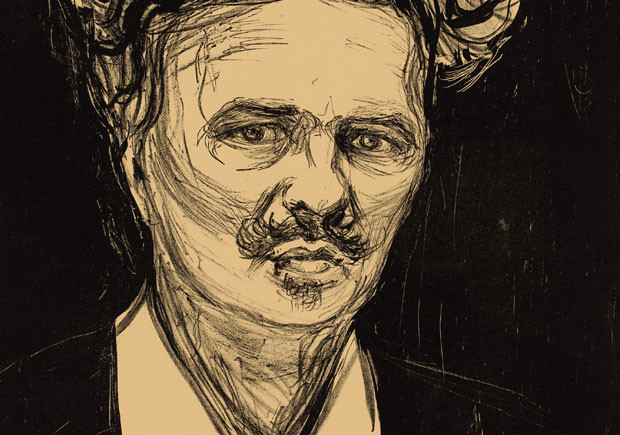









Sem Comentários