Os nossos editores refractários favoritos trazem-nos desta vez o clássico “A Ilha” (Antígona, 2014), de Aldous Huxley. Publicado originalmente em 1962, trata-se da última obra do célebre autor inglês, que viria a falecer um ano mais tarde. Escrito trinta anos depois de “Admirável Mundo Novo”, onde Huxley imaginou um pesadelo futurista alimentado a doses industriais de soma, em “A Ilha” tudo se passa num tempo e num espaço que não requerem um esforço tão grande da imaginação.
O jornalista Will Farnaby naufraga na ficcionada ilha de Pala, uma pequena e misteriosa ilha do Índico que se mantém isolada na cena internacional, sendo resgatado por crianças e levado a um posto médico para tratamento dos seus ferimentos ligeiros, onde trava conhecimento com o Dr. Robert MacPhail. É ele que conta a Will a história do encontro fortuito, há algumas décadas atrás, do seu avô, um cirurgião escocês, com o velho e doente rajá da ilha. Padecendo de um tumor aparentemente incurável, o rajá roga ao médico que arrisque uma operação sob hipnose, que se vem revelar bem-sucedida, convidando-o em seguida a assumir o papel de co-governador de Pala. Impressionado com a simplicidade do modo de vida palanês e a felicidade estampada no rosto dos seus habitantes, que contrastavam vivamente com tudo o que conhecera até então, o avô do Dr. Robert radica-se na ilha e lança, em conjunto com o velho rajá, as bases técnicas e filosóficas da moderna Pala – uma industrialização moderada que visa acima de tudo satisfazer as necessidades alimentares da população, uma economia baseada na cooperação, um sistema educativo centrado no desenvolvimento pessoal, um controlo da natalidade por meios naturais, uma religião sem superstições, deuses zangados ou sentimentos de culpa e, claro, a substância conhecida por moksha, versão benevolente da soma, na medida em que é usada não para alienar mas para iluminar.
Contudo, cedo percebemos que nuvens negras se formam no horizonte de Pala. Por um lado, a família real de Pala (a rainha Rani e o jovem príncipe Murugan, bisneto do velho rajá), que as reformas foram colocando à margem dos assuntos da governação em favor de um conselho de sábios, conspira com o impetuoso Coronel Dipa, que instaurou uma ditadura militar no país vizinho de Rendang-Lobo. E, por outro, apercebemo-nos que o próprio Will Farnaby não é exactamente quem anuncia ser: na verdade, foi enviado pelo industrial Lord Aldehyde em missão diplomática junto da rainha de Pala, visando persuadi-la a ceder-lhe direitos sobre as inexploradas reservas de petróleo da ilha.
 Entretanto, Will inicia uma visita guiada a diversos pontos da ilha, onde toma conhecimento em maior detalhe do modo de vida palanês. E, à medida que vai estabelecendo contacto com os habitantes locais e conhecendo os aspectos singulares da sociedade palanesa, o seu périplo transforma-se para ele numa viagem de auto-conhecimento, numa espécie de conversão. Contudo, Pala é uma utopia frágil e ameaçada de extinção, e Will terá de escolher de que lado está antes que seja tarde demais.
Entretanto, Will inicia uma visita guiada a diversos pontos da ilha, onde toma conhecimento em maior detalhe do modo de vida palanês. E, à medida que vai estabelecendo contacto com os habitantes locais e conhecendo os aspectos singulares da sociedade palanesa, o seu périplo transforma-se para ele numa viagem de auto-conhecimento, numa espécie de conversão. Contudo, Pala é uma utopia frágil e ameaçada de extinção, e Will terá de escolher de que lado está antes que seja tarde demais.
Funcionando como uma espécie de contraponto ao pessimista “Admirável Mundo Novo”, “A Ilha” serve de veículo para a exploração dos temas ligados às espiritualidades, em particular o budismo e o hinduísmo, que interessaram o autor na fase mais tardia da sua vida. Talvez Huxley acreditasse, ao fim de contas, que apesar da bomba atómica, da guerra fria, da sobrepopulação e do consumismo desenfreado, ainda havia uma réstia de esperança para a humanidade.
“A Ilha” é sobretudo um romance filosófico, onde Huxley sacrifica a fluidez narrativa e a construção dos personagens em favor da exposição detalhada, através de longos diálogos, dos conceitos em que assenta a utopia por si idealizada. Quem procura ficção mais convencional poderá ficar desiludido com o ritmo da acção e alguma falta de densidade dos personagens, mas os fãs de mundos alternativos e lugares imaginários não irão certamente ficar desapontados.

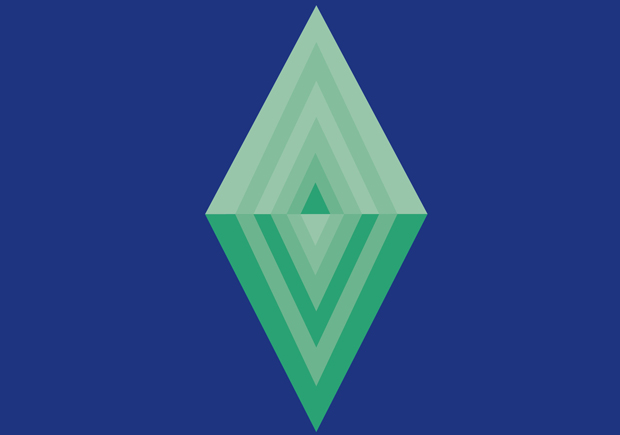









1 Commentário
Putaquipá!