David Machado – vencedor do Prémio União Europeia para a Literatura e do Prémio Salerno Libro d’Europa, com “Índice Médio de Felicidade” – explora, no seu mais recente livro, as múltiplas e intrincadas dimensões de uma era marcada pelo ruído incessante das redes sociais. O título é precisamente “Os Dias do Ruído” (Dom Quixote, 2024), e a protagonista é uma jornalista de guerra transformada em celebridade mundial depois de matar um terrorista islâmico, dividida entre o apelo da fama e a fadiga avassaladora que a domina.
Nesta entrevista, o autor fala-nos de alguns aspectos basilares do desenvolvimento desta obra, das temáticas que explora, da sua vontade de compreender o mundo contemporâneo e da oposição que encontra entre a literatura e o ruído virtual.
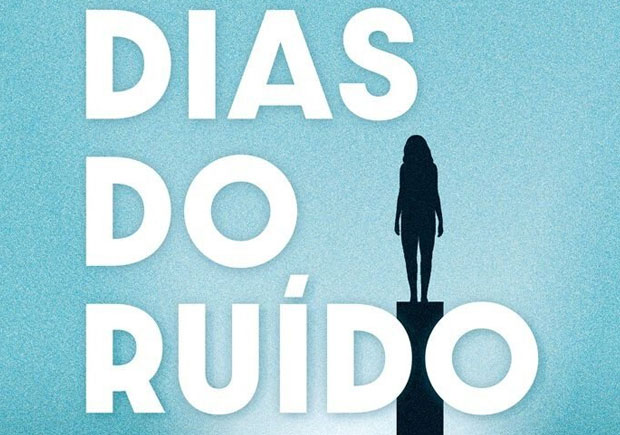
A acção do seu novo livro decorre num intervalo de tempo que a nossa memória colectiva situa entre os atentados terroristas islâmicos de Paris e a epidemia de Covid-19. Como avalia a importância destes acontecimentos na nossa contemporaneidade e de que forma o influenciaram?
Estou muito atento ao mundo em que vivemos, quero muito compreendê-lo e aproximar-me o mais possível daquilo que é a humanidade hoje. A literatura, ou a arte em geral, é uma ferramenta fundamental. Creio que algo que marca os nossos dias é o facto de acontecimentos como esses terem um impacto global que não tinham há algumas décadas. O planeta inteiro estremece. Gestos e palavras são amplificados a um nível muitas vezes desproporcionado. Sempre existiram atentados terroristas e sempre existiram pandemias. No entanto, agora, por causa da oportunidade que temos de comentar tudo, esses momentos tornam-se confusos e destorcidos.
Um dos temas principais que explora aqui é a dinâmica das redes sociais virtuais, que tendem a ser representadas de uma forma sombria – além de fonte de ruído, são caracterizadas como um fosso onde se cai –, mas cuja utilização acaba por permitir à protagonista, perto do final, conquistar uma nova segurança e recalibrar “o sistema de pesos e contrapesos que sustenta o mundo”. O que o motivou nesta exploração da dinâmica do mundo virtual?
As redes sociais são, para mim, o oposto da literatura. Os algoritmos dão prioridade àquilo que é supérfluo e imediato, não existe espaço nem tempo para aprofundarmos assunto nenhum, a dúvida e a consequente reflexão perdem a batalha da popularidade. Eu sou escritor precisamente porque isso me proporciona pensar sobre o que eu quiser sem esperar encontrar conclusões inequívocas e universais. Aliás, na maior parte das vezes, não existem conclusões inequívocas e universais. Parece-me quase infantil que, após tantos milhares de anos de desenvolvimento civilizacional, de repente não saibamos conviver com a ideia de que alguém possa ter uma opinião diferente da nossa.
“O ruído sobrepõe-se a tudo, à História e à verdade e aos nossos sonhos mais profundos”. Este ruído de que fala vem da polifonia de vozes que ecoam nas redes. Até que ponto o preocupa o uso dos algoritmos para a desinformação e a manipulação?
O ruído de todas estas vozes gritando o tempo todo nas redes sociais é apenas o resultado da nossa necessidade de sermos ouvidos e validados. É, aliás, isso que move a Laura no romance. Todos sofremos dessa insegurança emocional, todos precisamos do olhar dos outros para dar mais sentido à nossa existência. E isso foi sempre assim. A diferença agora é que a tecnologia se aproveita dessa nossa carência para lucrar. Os algoritmos conhecem-nos melhor do que nós próprios. A manipulação acontece sem sequer darmos conta.
Enquanto leitor, aprecia mais as visões distópicas acerca do futuro, ou as utópicas? E enquanto autor, em quais encontra mais inspiração?
Não tenho a certeza, mas creio que me interessa mais a distopia do que a utopia. O caminho alternativo àquele em que estamos obriga-me a olhar a realidade com outra lente, o que é sempre algo positivo. Porém, confesso que a ficção que mais leio é aquela que se faz hoje sobre o mundo contemporâneo. Precisamente porque quero tanto compreender o lugar e o tempo em que vivemos.
O livro é composto por três partes: na primeira, a protagonista vive na dependência da atenção que recebe nas redes sociais; na segunda, afasta-se delas; a terceira é muito menor e funciona como uma espécie de epílogo. Qual delas foi mais difícil de escrever?
A primeira parte, talvez pelo frenesim de ideias, momentos, diálogos, etc,. Há uma enorme ansiedade nessas páginas que eu partilhei com a Laura. Por outro lado, a segunda parte exigiu um maior trabalho do ponto de vista da narrativa. A terceira parte foi um alívio, não só por estar próximo do final, mas pela serenidade do texto.
Mais uma vez, encontramos uma mulher como narradora – e uma mulher com um olhar crítico acerca do que comummente passa por “natureza feminina”. Que desafios particulares enfrenta quando escreve na perspectiva de uma mulher e como lida com eles?
Não creio que os desafios de escrever na voz de uma mulher sejam maiores do que aqueles de escrever na voz de um adolescente problemático, de um soldado, de um animal, etc. O trabalho do ficcionista literário é aproximar-se do olhar, da voz e dos gestos das suas personagens, sejam elas quem forem. Por outro lado, a Laura não representa todas as mulheres. A minha intenção foi apenas representá-la da forma que imagino que, uma mulher com o seu passado, poderia ser.

Como em livros anteriores, surge aqui o tema da memória. Lemos, por exemplo: “O esquecimento não é possível nesta época em que tudo está registado e as máquinas decidem sozinhas quando está na hora de olharmos para o passado. Como é que podemos ser humanos sem nos esquecermos?”. Que papel atribui ao esquecimento na construção da humanidade? Como pensa que evoluirá a nossa relação com os meios de registo e transmissão da memória?
O esquecimento é fundamental. O passado é importante mas, a certa altura, temos de o largar para podermos reinventar-nos e seguir em frente. Se tudo fica registado, a pessoa que fomos continua presente, os erros que cometemos há décadas acompanham-nos até morrermos. Porém, o que mais me interessa é o facto de a memória colectiva ser quase sempre uma ilusão. As pessoas têm percepções diferentes do mesmo acontecimento logo no momento em que o vivem. A memória — com todas as suas falhas — só acentua isso.
Outro tema é a relação entre o ser humano e as suas ficções. Como avalia a importância das histórias que a humanidade cria para dar sentido às suas vivências, individuais e/ou colectivas?
A histórias — verdadeiras ou falsas — são o esqueleto da humanidade, são aquilo que estrutura a nossa existência. Através das histórias, somos capazes de controlar o caos do mundo e da vida, de atribuirmos às coisas significados que depois nos permitem orientarmo-nos. Estamos sempre a contar histórias. Sem elas, já estaríamos extintos há muito.
Já teve um livro seu adaptado ao cinema (“Índice Médio de Felicidade”) e “Os Dias do Ruído” também parece altamente adaptável. Como reagiria a uma abordagem nesse sentido?
Os meus romances nunca me parecem muito fáceis de adaptar ao cinema. Percebo que são visuais. Mas isso não significa que sejam cinematográficos. Sobretudo porque, em muitos casos, não seguem uma estrutura de cenas curtas que normalmente existe nos filmes. Com «Os Dias do Ruído» passa-se o contrário. A narrativa está tão fragmentada — para emular o fluxo de consciência de um ser humano — que me parece difícil replicá-la em cinema. Ainda assim, gosto muito da ideia de um objecto artístico dar origem a outro, mesmo que num meio diferente. Se acontecesse seria óptimo.
O que pode adiantar-nos sobre o seu próximo projecto literário?
Nos próximos tempos, vou publicar dois livros infantis. O primeiro — “Nós” — tem ilustrações do João Fazenda e sairá na colecção de livros para crianças sobre democracia que a Assembleia da República criou para celebrar os cinquenta anos do 25 de Abril. O segundo —“Uma História a Sério” — com ilustrações do David Pintor, será publicado na primavera pela Caminho.
—
Foto: Martim Machado











Sem Comentários