A partir de que momento se pode dizer que morremos? Quando o corpo falha, ou quando perdemos a consciência de quem somos? Mário Rufino, professor de Português como Língua Estrangeira, crítico literário e organizador de festivais dedicados às letras, debruça-se sobre estas questões complexas no seu primeiro romance, “Cadente” (Quetzal, 2024), centrado na relação de um homem com a avó, que o educou e que ele vê mergulhar na escuridão da doença de Alzheimer.
Entre estas duas personagens, há um amor imperfeito, mas determinante para os destinos de ambas. Ela enviuvou cedo, sofreu as agruras de quem deu por si no lado errado da História depois do 25 de Abril, e viu o único filho transformar-se num desconhecido, capaz de emigrar para escapar às responsabilidades de uma paternidade indesejada. A criança acaba por ser entregue à avó, a quem nem sempre facilita a vida – a adolescência inclui um período de entrega à droga –, até sair de sua casa, já adulto, para iniciar uma vida independente. Porém, esse objectivo é perturbado pela sucessão de esquecimentos e confusões da avó, sinais da doença insidiosa que lhe acompanha a velhice.
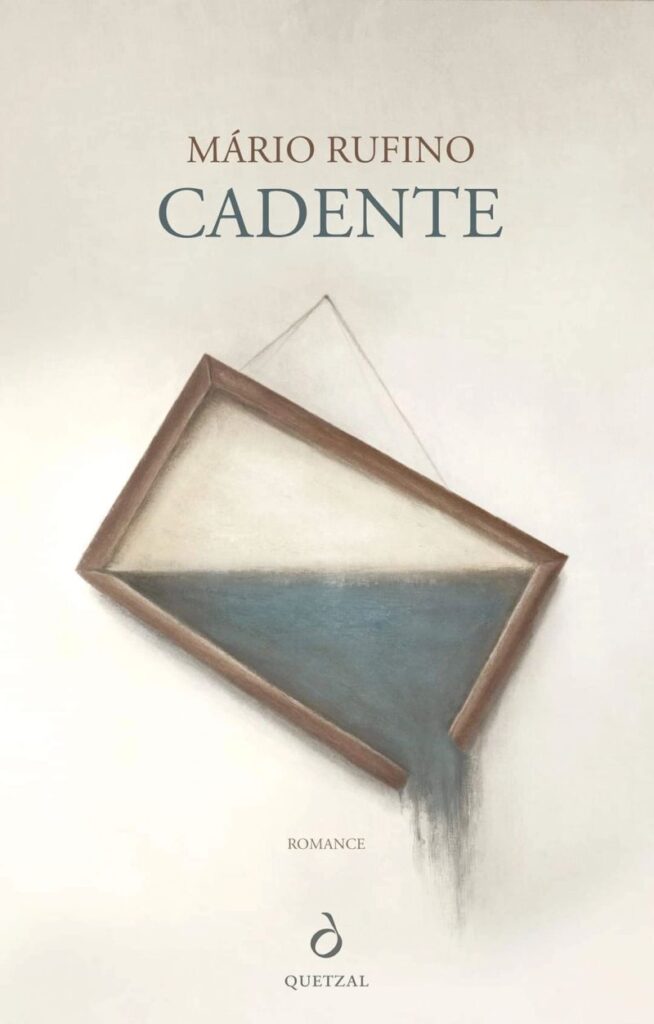
A descrição de quão degradante pode ser o envelhecimento nestas condições é crua e assustadora. Em simultâneo, é comovente a forma como a velha senhora lida com as “recordações enroladas umas nas outras”, preenchendo os hiatos da memória com ficções construídas a partir de narrativas lidas. Neste contexto, a personagem do neto é deveras humana, nas suas fraquezas e hesitações: não quer deixar a avó desamparada, mas está pouco disposto a desmantelar a organização da sua vida “para ordenar o caos na dela” e assumir “o papel de cuidador de uma criança riscada pelas rugas”. Primeiro recorre à ajuda de uma vizinha, depois percebe que ela precisa de mais cuidados do que aqueles que ambos conseguem prestar, e por fim interna-a num lar, tanto para segurança dela como para sossego dele, divido entre a ânsia de se afastar das preocupações e a culpa por entregá-la a desconhecidos. E também magoado por se sentir menos estimado do que a idealização de um filho que nunca mais voltou.
Perante a fragilidade do corpo e da mente, ergue-se a importância da preservação da memória, sem a qual “não passamos de uma bolsa de entranhas, cartilagens e ossos”. Se “somos feitos de histórias e desaparecemos se não há ninguém para as contar”, a escolha da última palavra do livro – o nome da avó, nunca antes mencionado – é um gesto deliberado de alguém decidido a lembrá-la, desafiando a mortalidade e o esquecimento.











Sem Comentários