É certo que Janeiro já vai avançado, mas 2022 também não foi assim há tanto tempo. Retido num vácuo espácio-temporal constituído por factores vários, o texto teimava em não se apresentar concluído, como se propusera na sua génese. Mas, enfim, ei-lo. Não são os melhores livros do ano, são seis livros de que gostei (muito, mesmo), publicados em 2022. Concordem ou discordem, tentem descobri-los.
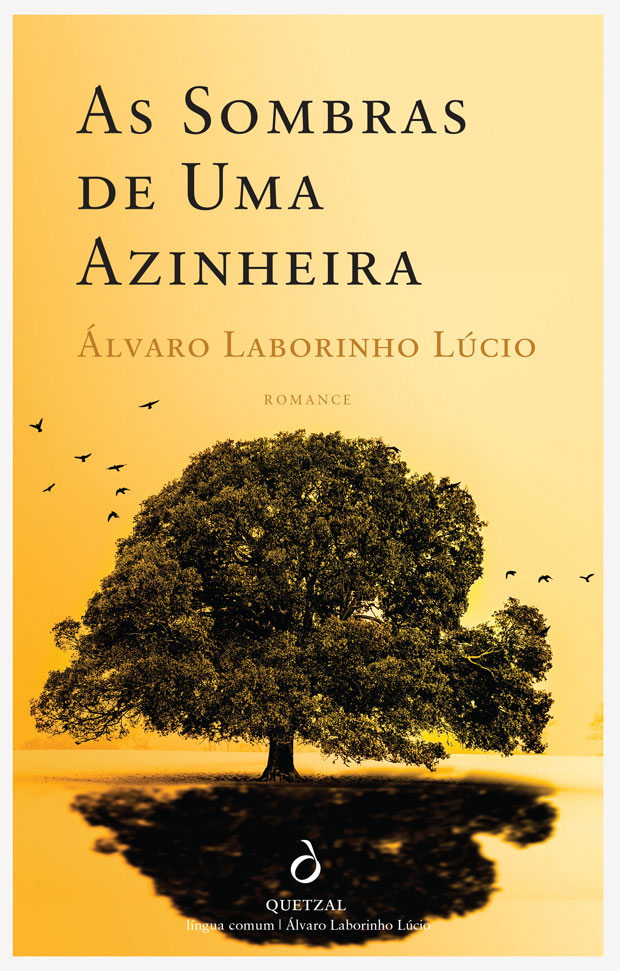
As Sombras de Uma Azinheira” | Álvaro Laborinho Lúcio
Quetzal
Nasceu no dia 25 de Abril de 1974, data em que perdeu a mãe. O livro chama-se “As Sombras de uma Azinheira” e ela, adequadamente, Catarina. Mas não se iludam com as camadas mais evidentes, o mais recente romance de Álvaro Laborinho Lúcio está apetrechado para cruzar territórios distintos e satisfazer leitores que não temem o mergulho.
«Então o essencial não é a aprendizagem? Não é para isso que se ensina? O ensino é um fim em si mesmo, ou o fim é a aprendizagem?», lança-nos esta personagem, este livro – quiçá, o seu autor. «Catarina é assim. Ela e as perguntas!», remata, numa frase central para um entendimento alargado do livro, mas cujo alcance, nesta fase, o leitor ainda não pode adivinhar.
A solidão ou o envelhecimento, o poliedro em que assenta toda a questão da descolonização, os afectos e afinidades, a coerência ideológica ou metafísica do verdadeiro Conhecimento, assim mesmo, com maiúscula, são alguns dos tópicos que podemos encontrar. Um romance onde lê que «a poesia está acima das palavras».
Depois de décadas de um percurso ligado ao universo da Justiça, Álvaro Laborinho Lúcio publicou o seu primeiro romance em 2014, com 73 anos de idade. A sua ficção é um compreensível reduto para reflexões, assentando os tijolos de uma construção mental onde são acolhidas, com naturalidade, dúvidas e incertezas, frutos evidentes de uma abertura de espírito coexistente com valores e pressupostos que, se nunca enumerados, deixam que a sua influência contamine a construção ficcional dos seus livros e dos seus habitantes.
A mestria com que a personagem de Catarina é concebida como lésbica, sem que disso se faça qualquer alarde ou bandeira é, em si mesma, uma sagaz postura política – ostentando essa naturalidade como a única prova de um preconceito colectivamente ultrapassado.
João Aurélio, pai de Catarina, fará o seu percurso, enfrentará os seus medos e ilusões, ajudará cada leitor a ponderar sobre o modo como o tempo molda, em cada um, um novo entendimento acerca da posteridade e da forma como seremos, ou não, lembrados. Tudo conceitos que se alteram com o passar dos anos. Forçosamente.
Equilibrando com mestria a história das personagens que criou e a suas reconhecidas capacidades de reflectir e fazer o leitor acompanhá-lo, Laborinho Lúcio discorre sobre diversas vírgulas existenciais que surgem amiúde no texto da vida de cada um, oferecendo-nos um romance inteligente, lúcido, por vezes duro: «A verdadeira solidão é outra coisa, vem agarrada ao tempo, invade a velhice, como se dela fosse parasita, e vai comendo o que resta».
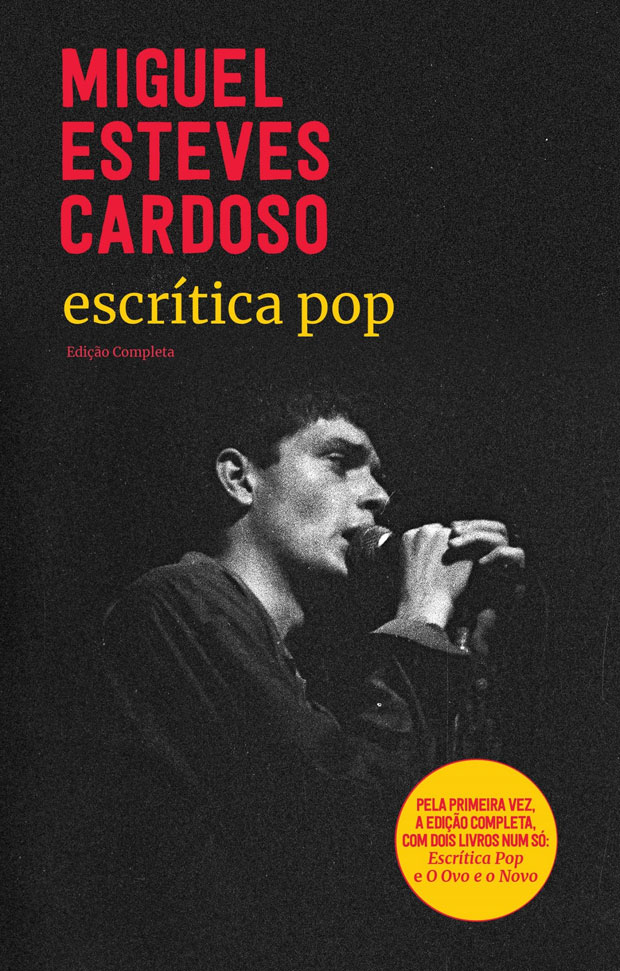
“Escrítica Pop – Edição Completa” | Miguel Esteves Cardoso
Bertrand Editora
Não sendo, em bom rigor, um livro publicado originalmente em 2022, é uma das grandes novidades de 2022. Mesmo que o texto se limitasse ao que foi disponibilizado nas edições anteriores – a primeira delas datada de 1982 –, este seria um livro ao qual a designação de “novidade” nunca causaria estranheza, tal a frescura, a originalidade e a capacidade de antecipação (ou, talvez, de sincronia, já que grande parte dos textos remetem para bandas e movimentos que estavam, por aqueles dias, a despontar, inovar e fazer História) que o seu autor consegue ostentar.
A sintonia e sincronização com grande parte do Rock e da Pop que surgia no final da década de 70, e que seria a banda sonora de toda a uma geração ao longo da década seguinte – como os então quase desconhecidos Joy Division, na primeira linha das autênticas revelações fundamentais que compõem muitos destes textos –, são a pedra-de-toque de um livro de culto. Se os melómanos o lêem e relêem pelo som, os restantes podem perfeitamente fazê-lo pela escrita. E também o autor trilhava os passos iniciais de reconhecimento hoje indiscutível.
Contudo, há uma valiosa adenda. Esta edição acrescenta, acima de tudo, “O Ovo e o Novo – (Uma) Discografia Duma Década de Rock, 1970-1980”, texto publicado à laia de posfácio do livro “PopMusic-Rock”, de Philipe Daufouy e Jean-Pierre Sarton, em 1981, como explica o suculento prefácio de Manuel Falcão.
Aliás, o primeiro director do semanário Blitz (que chegaria às bancas a 6 de Novembro de 1984, estreando-se com uma célebre capa dedicada ao concerto de Siouxsie and the Banshees, três dias depois, no Pavilhão do Restelo) chama a atenção, e muitíssimo bem, para um texto em particular: “Como Ser um Crítico de Rock – Um Guia Prático”, publicado originalmente em 1981, naturalmente em pleno reinado do vinil. É nesse magistral texto que o futuro MEC cunha uma das suas mais extraordinárias expressões, ao abordar (p. 156) “A crítica de Rock com audição”:
“Mas vamos supor que o leitor, não tendo dominado estes princípios basilares, se obriga a escutar o conteúdo. Neste caso, precisa de um pick-up. Aliás, nós, os profissionais da crítica, conseguimos sempre descortinar os amadores: são os que têm gira-discos em casa.
Existem dois métodos abreviados de ouvir um disco: o primeiro é conhecido pela técnica da «primeira e quarta» e o segundo é o chamado processo «pica-montinhos».
O primeiro baseia-se no princípio sólido segundo o qual os álbuns arrancam sempre com a melhor canção, colocando a pior de todas entre a segunda e quinta do segundo lado. Como tal basta ouvir os dois extremos, graduando-se assim o termómetro crítico em 100 e 0 graus, concluindo legitimamente que o que está no meio é comprovadamente mediano.
O segundo requer um maior esforço físico, mas, bem aplicado, poupa tempo ao crítico. Basta deixar cair a agulha, durante breves segundos, no princípio e fim de cada faixa, apanhar o gosto ao som e decidir se vai causticar ou elogiar. Se conseguir ir ao pica-montinhos até ao fim do disco, é de causticar, dado que nenhuma faixa o motivou no sentido de, ao menos ouvir mais um bocadinho. Se não conseguir, é porque o disco não é mau de todo, e aí é que a porca torce o rabo.
De qualquer modo, frise no seu texto que, apesar de ter tido cuidado de escutar atentamente o disco em questão, não lhe consegue descobrir defeitos/virtudes. Dá assim a imagem de uma paciente a abnegada labuta, provavelmente arrancada da carne à luz da vela, com um paladar intenso a Dostoiévski: o pobre crítico, generosamente procurando novos valores entre os milhares de estrias religiosamente ouvidas, defendendo-se do frio das suas águas-furtadas com várias capas de duplos-álbuns, cosidas em jeito de samarra de cartolina, o mais juntas possível ao pelo e ao coração”.
Com toda a certeza, este “pica-montinhos” foi uma das pedras basilares onde assenta toda a catedral futura que seria a escrita de Miguel Esteves Cardoso.
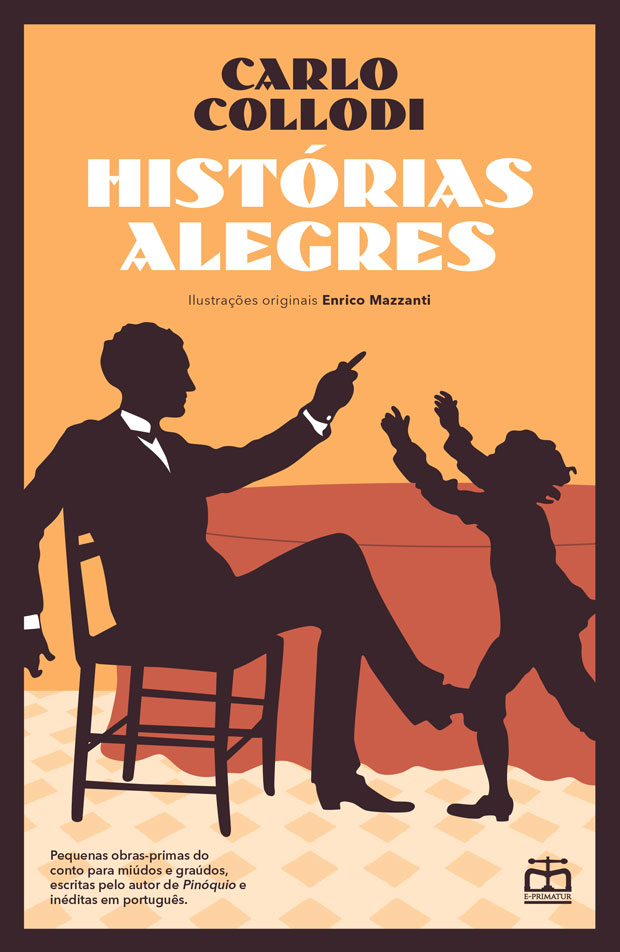
“Histórias Alegres” | Carlo Collodi
E-Primatur
Quando um livro de certo autor se torna um êxito durante gerações sucessivas, o nome arrisca-se a ser diluído no título, contribuindo para uma obscuridade (ou desconhecimento) em volta da restante obra. Se vos falar de Carlo Collodi, é quase certo que o reconhecimento do nome virá seguido da criatura à qual deu vida através da escrita: Pinóquio.
Publicado originalmente em 1887, este conjunto de contos reunidos sob a designação de “Histórias Alegre”s, é uma das grandes surpresas editoriais portuguesas de 2022. Das oito narrativas que compõem o volume, quatro delas foram inicialmente conhecidas, entre Maio de 1883 e Dezembro de 1885, no “Girornale per i bambini” (aliás, publicação referida por uma das personagens de “Pipi”, num exemplo divertido e descomprometido da mais franca metaliteratura).
O humor que trespassa estas histórias é inteligente, facilmente compreensível, construído com elegância e apelativo a todos os escalões etários. A subtileza está no estilo e não em camadas de entendimento. Embora haja excepções:
“ – Sofri tanto, meu amigo! A minha vida é uma autêntica ilíada…
– O que quer dizer «ilíada»?
– Eu cá não sei nem quero saber. Sou como certos filhos dos homens: repito ao acaso o que ouço dizer e não me preocupo com o resto.”
Esta é uma passagem do conto “Pipi”, o mais extenso deste conjunto, uma autêntica saga épica, protagonizada por um macaquinho cor-de-rosa que foge da família, engana o terrível Goela-Seca, torna-se atracção circense forçada e muitas outras fantásticas e dinâmicas tropelias. E tudo começa a descambar porque se recusa a vestir como um homem.
Carlo Collodi (pseudónimo de Carlo Lorenzini, resgatando para apelido a terra natal da mãe; 1826-1890) começou por escrever em jornais de índole política. Quando se desencantou desse registo, passou a traduzir fábulas francesas, acabando por criar narrativas de carácter algo alegórico (ele que, curiosamente, encarreirou com a Maçonaria, ao longo da sua vida).
Em todas estas Histórias Alegres, de forma mais ou menos evidente, encontramos pontes epistemológicas para algumas das questões que fizeram de Pinóquio o ex-libris de Carlo Collodi: a imitação dos comportamentos de um homem adulto pelo garoto irrequieto, a persistência em vestir o tal macaquinho de forma humana (no mesmo conto em que também lemos sobre a importância de não contar mentiras e das consequências para quem o faz) ou as traquinices do próprio autor, transformadas no divertido “Quando eu era criança!”, são evocações constantes das atribulações que cunharam a vida do boneco adoptado por Gepeto, que ficou para a História, entre outras coisas, pela sua propensão irresistível para a mentira, acompanhada da física consequência que o afamou – o nariz crescendo, à laia de castigo denunciador.
Há um texto em que essa evocação se torna enternecedora: “Um conto de Natal”, fábula vivida por três irmãos e pela mãe, em que os petizes devem decidir o que fazer com o dinheiro amealhado, por altura da Quadra festiva. Há quem opte por adornar um cavalo de pau com os mais imponentes arreios, ou quem use o inocente pecúlio para assegurar uns mimosos sapatinhos de baile para uma boneca confidente. Contudo, o terceiro irmão comove-se com a pobreza de um ser humano, um garoto como ele, e é com ele que serão gastas as economias oferecidas ao longo do ano.
Um livro onde se encontram discretas alusões às diferenças sociais, num tempo em que a desigualdade social era ainda mais banal (“creia-me, senhor assassino, tenho uma fome tão grande, que até no escuro a vejo!”) mas onde nunca é escamoteado o valor da liberdade, até porque “a mais bela prerrogativa que têm os soberanos é de não poderem fazer nada à maneira deles”.

“Pele de Homem” | Hubert e Zanzim
A Seita
Bianca está apalavrada para Giovanni, num casamento de conveniência absolutamente tradicional e inquestionável que, contudo, cria as maiores expectativas na jovem moça. A madrinha revela-lhe um segredo de família, que irá mudar o curso dos acontecimentos, colocando a nu as verdades mais inconfessáveis, tantas vezes comodamente acantonadas em preceitos e preconceitos, mentiras e ardis sociais.
Trata-se de uma “pele de homem”, artifício algo mágico que, uma vez trajado, concede essa indiscutível condição ao corpo que a ostenta. E assim, com a pele por cima da sua, Bianca faz-se Lorenzo, apostada em conhecer o futuro marido sem que ele saiba com quem lida, julgando até estar a lidar com um homem. Um homem como ele.
Que a aparente simplicidade do enredo não conduza em erro possíveis leitores: o trabalho desenvolvido neste livro aborda com uma enorme inteligência questões cruciais das relações humanas, não só no que respeita à ocultada preferência homossexual de Giovanni (da qual, nem ele mesmo tem uma noção assumida, encarando-a como parte de uma postura marialva e folgazã), mas indo muito mais longe, reflectindo sobre as relações de poder, a cegueira impulsionada pelo extremismo religioso (tantas vezes apenas mais uma cobertura para a manutenção das ditas relações… de poder), a mítica curiosidade feminina (mas também a sua histórica subjugação) ou até mesmo, em última análise, a questão da identidade por si só – a relação entre a aparência física e os sentimentos que podem nascer ao encontro dela ou de encontro a ela.

Graficamente, o livro é muito interessante e empático, com amplos planos em várias páginas, ou recorrendo a um sistema de fixação do que seriam vinhetas, sem linhas, com essa delimitação apenas sugerida, criando movimentação das personagens na página através da repetição da sua presença, mas já alguns movimentos depois do desenho anterior. Um excelente exemplo das possibilidades exploradas com esta técnica narrativa é a dupla página 46-47, com a luta entre Lorenzo e Giovanni (sem qualquer fundo, sequer). Excelente efeito!
Há muitas portas e janelas, há paisagens, mas também muitas escadas. Todos estes elementos fornecem uma certa dimensão arquitectónica ao livro (acentuada pela presença de vistas interiores de divisões, como se de uma maqueta se tratasse), fortalecendo a importância dos cenários. Os jogos de perspectiva (p. 21; p. 23; p. 64, p. 96, por exemplo) trazem à memória, consciente ou inconscientemente, o universo de Escher, mesmo dispensando a dimensão mágica que acompanha as criações do mestre das ilusões ópticas e das construções impossíveis.
A edição original deste livro é o mês de Junho do ano de 2000. Os desenhos e restante trabalho artístico estiveram a cargo de Zanzim (n. 1972), pseudónimo de Frédéric Leutelier, autor que cita como as suas maiores influências Quino (autor das Mafalda) e Jean-Jacques Sempé (As Aventuras do Menino Nicolau). O texto e a concepção da história nascem de Hubert (de seu apelido Boulard, n. 1971). Infelizmente, o argumentista não assistiu ao sucesso que a obra tem recolhido, em vários países. Uma antiga depressão e os conflitos interiores que a sua homossexualidade e a educação fortemente católica a que foi sujeito desencadearam, culminaram no seu suicídio, uns meses antes do lançamento, em Fevereiro de 2020. Certamente, este foi o seu trabalho mais pessoal.

“Branco em Redor” | Wilfrid Lupano e Stéphane Fert
Arte de Autor
Canterbury, na Inglaterra, ficaria no mapa musical do séc. XX como uma das cidades do Rock Progressivo, berço de bandas como Soft Machine, Caravan, Camel, Henry Cow, Gong ou Matching Mole, entre várias outras. Mas esta história passa-se numa outra Canterbury, cidade do Estado de Connecticut, na designada Nova Inglaterra, no século anterior (1832), num ambiente de racismo e segregação aceites como naturais, durante um tempo em que o questionamento de toda essa conjuntura se faz sentir. Se o Norte da América abolira a escravatura, o Sul estava a três décadas de seguir o mesmo caminho.
Sarah procura a professora Prudence Crandall, com uma dúvida peculiar: pretende saber por que motivo um pau entra direito na água, mas passa a ser visto como partido. Quando é retirado da água, está novamente direito. Prudence explica-lhe o fenómeno da refracção, mas intui o verdadeiro motivo da visita: «Qual é exactamente a tua pergunta?». Sarah quer frequentar a escola. Sarah é negra e a sua decisão vai desencadear um turbilhão na população, quando a responsável pela escola anuncia que só vão passar a receber raparigas negras.
O livro assenta num ritmo muito próprio, com várias sequências de páginas sem qualquer texto (que resultam muito bem), asseguradas por Stéphane Fert, convidando o leitor a recriar o movimento e a dinâmica que observa. As expressões das personagens são marcantes, traduzindo bem o confronto entre o poder instalado, que não olha a limites para o manter, e a candura associada aos que estão habituados a obedecer, porque assim é, sempre assim foi, sempre assim será.
Já com o livro adiantado, voltamos ao diálogo inicial entre Sarah e Prudence, questionando a metamorfose visual sobre o pau, metáfora cada vez mais evidente para toda uma apreciação social generalizada: «Porque é que o olhar muda? Porque é que a indignidade se transforma em glória?», pergunta-se agora, de forma mais explícita no texto imaginado por Wilfrid Lupano.
Além de toda a evocação, de forma natural e esclarecida, da importância da formação e do conhecimento na transformação da sociedade e na conquista de direitos, este livro – cuja acção decorre de factos e figuras reais, como percebemos ao ler o completo posfácio – transporta consigo uma outra mensagem, mais fina, mais subtil, talvez se possa dizer, mais política, até.

Há um personagem que cruza a história principal, um jovem negro que vive na selva e recita insistentemente a confissão de Nat Turner, o escravo que sabia ler e escrever, o escravo que liderou uma violenta revolta de onde resultaram seis dezenas de massacrados, o escravo que se tornou num símbolo para os que apenas acreditam numa forma de contrariar a escravidão: a força.
Ora, acontece que o impertinente garoto, idolatrado por algumas moças, perseguido por toda a comunidade reinante, acaba abatido a tiro, apesar de estar apenas… a falar, a apregoar as suas ideias, como era seu apanágio.
«Prefiro os negros que rejeitam a nossa sociedade aos que tentam penetrar nela por todos os meios», comenta um segregacionista mais cerebral e calculista. Essa é uma das chaves do entendimento, não só para esta história, mas para a compreensão de muitos problemas raciais que persistem na actualidade. Alimentar o confronto rende a sua manutenção, alimentar um extremismo na diferenciação cultural rende uma protecção face ao multiculturalismo e à miscigenação, o verdadeiro horror da xenofobia.
Um livro intenso e didáctico. Mais um excelente exemplo do que pode fazer a BD em ambiente de sala de aula, promovendo a discussão e suscitando a curiosidade dos mais novos perante realidades que, por vezes, nos parecem tão estranhas e distantes, outras, tão desagradavelmente familiares.

“Variantes – Uma Homenagem à BD Portuguesa” | Vários Autores
A Seita
Uma homenagem a alguns dos mais emblemáticos autores (e livros) da BD feita em Portugal ao longo de vários anos, num livro que acaba por funcionar também como uma passagem de testemunho, em grande parte pelo modelo escolhido.
Vários dos autores mais destacados da Nona Arte portuguesa contemporânea são desafiados a recriar uma prancha, imagens essas retiradas de alguns dos livros essenciais que esta arte foi produzindo entre nós. E a evocação começa em tempos antigos, com Raphael Bordallo Pinheiro, pela mão de Gonçalo Varanda.
O prefácio de Júlio Eme funciona como um pequeno ensaio, e acaba por veicular alguns pontos de vista merecedores de atenção. Afastando, desde logo, a possibilidade de um levantamento histórico exaustivo, ou a intenção de uma cobertura temporal amplamente abrangente, o texto começa por definir a Banda Desenhada portuguesa: «Tal coisa não existe», para, mais adiante, desenvolver a provocação: «Mas não há, nem no sentido artístico, nem no sentido comercial, algo a que se possa chamar correntes, linhas, tendências, etc… Pode haver afinidades, pode haver preocupações comuns, mas – tirando talvez um brevíssimo período entre o fim dos anos 1980 e o início dos anos 1990 – nunca houve mais do que circunstâncias de tempo e espaço. Nada que perdurasse e fizesse escola».

Entre os bons exemplos enumerados, fulcrais para a consolidação de uma presença efectiva desta arte – como sendo a Bedeteca de Lisboa, a presença de BD na bolsa de criação Literária do Ministério da Cultura, o Festival da Amadora ou o Salão Internacional de Banda Desenhada do Porto, diversas publicações fundamentais, cada uma na sua época –, há um outro elemento cuja importância é enaltecida, sem regateios à sua importância: os jornais e as revistas generalistas.
«Basta estar atento ao essencial para perceber que grande parte do que aqui mostramos nasceu nas páginas da imprensa, e que é à imprensa que devemos quase tudo o que relevante existe no panorama nacional», lemos. Bons exemplos deste raciocínio serão as pranchas de Quim e Manecas, de Stuart de Carvalhais (aqui reproduzidas pela arte de Marco Mendes), as Aventuras do Boneco Rebelde, de Sério Luiz (revistas por Paula Cabral), Filipe Seems, da dupla Nuno Artur Silva e António Jorge Gonçalves (cujas pranchas originalmente publicadas no Se7e deram origem a uma histórica exposição em Sines, a convite de Al Berto), aqui transfiguradas por Marta Teives, ou a disruptiva Filosofia de Ponta, gerada por Júlio Pinto e Nuno Saraiva, gestação mantida nas páginas do semanário O Independente, aqui revistas por André Caetano.
Há outros nomes – e imagens – absolutamente essenciais e históricos – como Wanya, Escala em Orongo, marco na Ficção Científica portuguesa, criado por Augusto Mota e Nelson Dias (recriado por Fábio Veras); Por Entre os Dedos, trabalho que nos revelou os desenhos de Isabel Lobinho na revista Visão, na segunda metade da década de 70 (aqui na versão de Sofia Neto); O Espião Acácio, obra emblemática de Fernando Relvas (homenageado por Ricardo Baptista); ou A Pior Banda do Mundo, o estranho universo povoado por José Carlos Fernandes, aqui fixado por Rita Alfaiate.
Um livro que pode agradar a diferentes géneros de leitores, uns pela curiosidade e descoberta, outros pela devoção e reconhecimento. Em todo o caso, uma ideia bastante válida e uma forma original, integrada no anunciado esforço deste selo editorial em lançar álbuns que contribuam para uma reflexão colectiva sobre o panorama da BD em Portugal.











Sem Comentários