É, escreva-se sem receio de que a caneta trema ou o teclado encrave, um dos grandes acontecimentos literários do ano: o regresso, 16 calendários de parede depois, do norte-americano Cormac McCarthy ao universo dos romances, com aquele que será o primeiro de dois livros: “O Passageiro” (Relógio d`Água, 2022). O projecto ficará concluído com a edição de “Stella Maris” – já disponível nas livrarias -, contando ambos os livros com a tradução do já habitué Paulo Faria.
“Que meditemos nos falsos alicerces do mundo, cuja substância é feita da dor das suas criaturas”. Esta frase, que poderia bem constar de um dos evangelhos deixados ao mundo – apócrifos ou nem tanto -, parece ser o mantra existencial de Western, um mergulhador de resgate que, segundo Dove, “está a afundar-se numa escuridão que não consegue entender”, incapaz de pertencer a qualquer colectivo.
A vida de Western, que tem vindo a alimentar rumores e mitos ao longo dos anos, dava um filme dos longos: foi um aluno genial, decidindo, a certa altura, atirar com a licenciatura de física às urtigas para se tornar um piloto de corridas, até que um grave acidente o afastou das pistas; esteve no Nam, de onde trouxe para casa várias medalhas pelo seu desempenho como atirador de helicóptero; levando Os Maias a um novo patamar, desenvolveu com a irmã uma relação de amor platónico, irmã que desempenha aqui um papel fundamental na sua loucura muito particular – e que será, presume-se, a peça central de “Stella Maris”, o próximo capítulo deste díptico McCarthiano.
A trama do livro começa a desenrolar-se à volta do mistério de um avião afundado com nove corpos – dois tripulantes e sete passageiros –, e que tem em falta a caixa negra, uma mala Jeppa e um passageiro. Um mistério que inquieta Western, provavelmente o primeiro a ter visto o avião no fundo das águas: “Consegues explicar como é possível um avião a jacto de três milhões de dólares acabar no Golfo do México com nove mortos a bordo e nenhum jornal a dar a notícia?”.
A partir daqui, Cormac McCarthy mergulha o leitor no lado mais negro do coração americano – e também da condição humana -, numa viagem delirante que envolve o abuso de poder das forças de vigilância, a conspiração à volta do assassinato de John F. Kennedy ou um olhar sobre a devastação esquecida – e não aprendida – de Nagasaki, trazendo de volta o perigo nuclear: “Naquele fantasma micótico a desabrochar na alvorada como uma flor de lótus maligna e no derreter de sólidos que até então ninguém julgara passíveis dessa transformação existia uma verdade capaz de silenciar a poesia durante mil anos”.
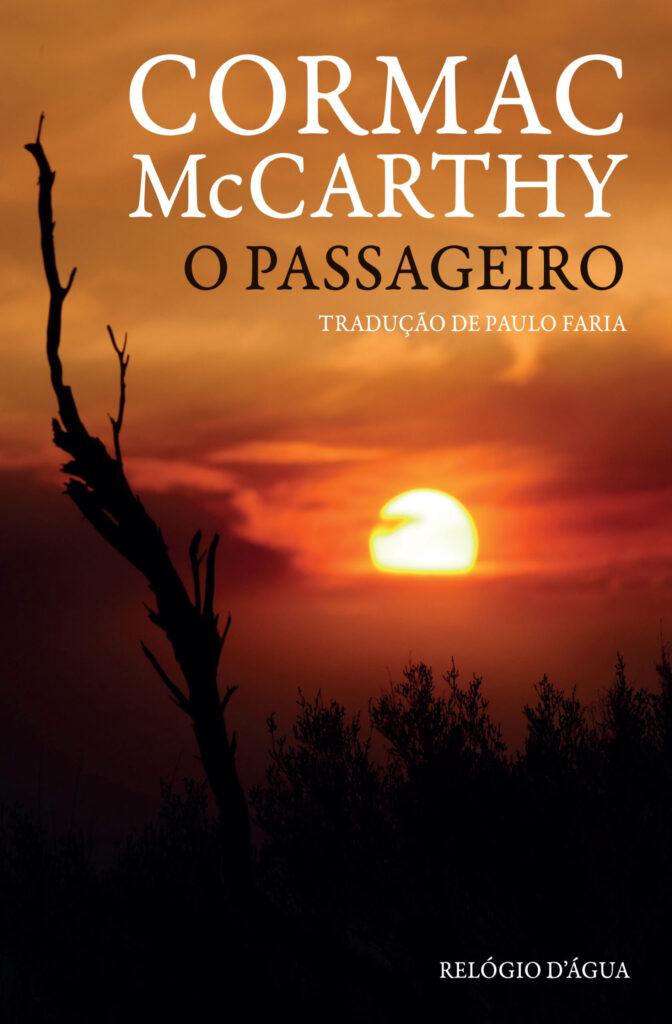
Pelo caminho descobrimos a mecânica quântica, a Teoria das Cordas, partículas materiais ou bosões vectoriais, num livro que, tal como os grandes livros, lança mais inquietações e pontas soltas do que sinais de conforto, deixando-nos com uma imagem do fim da história que poderá bem ser o epitáfio de McCarthy: “Não sei o que vai acontecer. Não sei ao certo se quero saber. Se eu pudesse planear a mina vida, não a quereria viver. Provavelmente, não a quero viver de qualquer das maneiras. Sei que as personagens da história tanto podem ser reais como imaginárias e que, depois de estarem todas mortas, não vai fazer diferença. Mesmo que os seres imaginários morram numa morte imaginária, não deixam por isso de morrer. Achamos que conseguimos criar uma história daquilo que foi. Artefactos presentes. Um maço de cartas. Um saquinho de ervas aromáticas na gaveta de um toucador. Mas não é isso que forma o âmago da história. O problema é que aquilo que faz avançar a história não sobrevive à história. À medida que a sala escurece e que o som das vozes se dissipa, percebemos que o mundo e tudo o que ele contém não tardarão a desaparecer. Acreditamos que irão recomeçar. Apontamos outras vidas. Mas o mundo delas nunca foi o nosso”.











Sem Comentários