“A música terminou, mas a canção não acabou”. O aviso tinha sido deixado por Manuel Fúria em “Canção Infinita”, a derradeira canção de “Viva Fúria”, longa-duração assinado em 2017 por Manuel Fúria e os Náufragos. A canção mais confessional deste esmerado disco, num registo diarístico que pedia uma continuação. Pois bem, cinco anos depois do naufrágio Manuel Fúria arruma a viola no saco e troca o rock pela electrónica, gravando uma biografia musical onde se descobre muita nostalgia, preces e lamentos religiosos, fotografias esbatidas de amigos encontradas no fundo de uma gaveta ou um elogio ao chão onde nasceu – e que não é mais do que uma memória breve, sujeita à inclemente erosão do tempo. A ironia musical prossegue agora com Os Perdedores, o novo projecto cujo disco homónimo foi lançado hoje (já escrevemos sobre ele aqui), estando a apresentação marcada para amanhã no festival literário Arquipélago de Escritores (15 Outubro, 22h00, Museu de Angra do Heroísmo – Terceira, entrada livre). Em jeito de antecipação a um concerto que promete, colocámos cinco perguntas a Fúria sobre esta sua mais recente perda (que mais parece uma grande vitória).
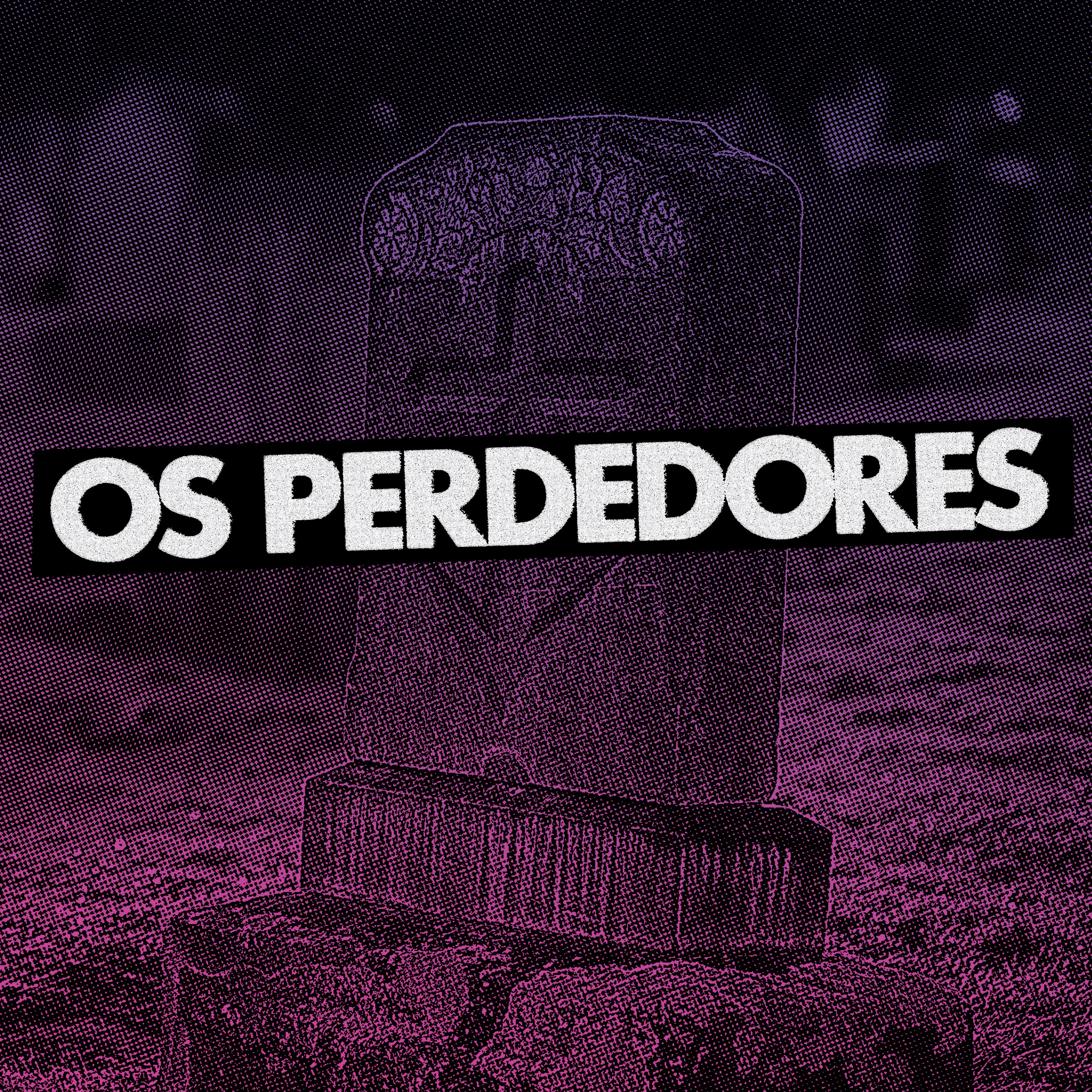
Capa do disco “Os Perdedores”
Depois do naufrágio, segue-se agora a perda. Se, para alguns, os desgostos amorosos têm sido a matéria para sacar grandes discos, no seu caso a criação parece estar ligada a um confronto com o passado, os que ficaram para trás ou uma memória que não há meio de dar tréguas. Os Perdedores são a catarse de que andava à procura?
Diz e bem, que a memória não dá tréguas. De facto não o faz. É da sua natureza não o fazer. Algumas destas canções, evocando lembranças de momentos, lugares ou pessoas não são, no seu conjunto sobre isso, mas sobre o acto de perder: a chaves, o tempo, nós próprios, ao mesmo tempo que se alinha no lado errado da História, junto dos que perderam. A esse alinhamento não chamaria catarse, antes abandono ou mortificação.
Rockeiro de pelo menos cinco costados, decidiu arrumar a viola – ou a guitarra eléctrica, para sermos mais precisos – no saco e trocá-la por uma electrónica que, a espaços, chega mesmo a entrar no território do techno desvairado. É certo que “Viva Fúria” já convidava, de forma tímida ou algo domingueira, a pôr o pé na pista de dança, mas aqui a questão não é se se dança ou não. É se se tira ou não a T-Shirt. De onde surgiu esta epifania electrónica?
É uma vontade antiga. Já no tempo dos Golpes que me atraía a ideia da música de dança, sendo que aí era uma banda roque a praticá-la. Depois vieram outros discos e outras histórias, mas agora foi o tempo de o concretizar por duas razões: a primeira porque um dos critérios foi o da liberdade, este é de facto o meu disco mais livre até até ao momento e a música electrónica, pela sua plasticidade e potencial praticamente ilimitado é propícia ao à descoberta de soluções que ajudam a essa liberdade; a segunda foi porque foi agora que me apeteceu fazer isto assim.

Ainda assim, as raízes, o chão português, a língua que une margens separadas por um oceano, o elogio da ruralidade, estão presentes de forma vincada neste disco, por vezes de forma quase sub-reptícia: a sombra de um adufe e o poema de Adélia Prado em “Blandina de Lyon”, a “Oração” de António Calvário, os passeios saudosistas através de uma cidade que já não existe. Estes são tempos complicados para quem mostrou sempre ter um apego à pátria e à identidade portuguesa? E para onde caminha este Portugal?
Os tempos são sempre tempos complicados, a ideia de um tempo mais simples ou favorável é uma simplificação nostálgica, uma agradável mentira elaborada para seduzir os espíritos mais dados ao culto da saudade. Este é o tempo que me foi dado, é nele que vivo e que faço o que tenho a fazer. Custará certamente. Mas é aqui e agora que estou.
Alinho com o MacIntyre , quando compara o momento cultural que vivemos com a queda do Império Romano. O abandono da razão e da tradição da virtude, que o Ocidente fez em favor do relativismo, tornou-nos governados pela ideia de que todas as escolhas morais não são mais que meras expressões daquilo que o indivíduo determina que é certo para si, liberto de quaisquer autoridades ou constrangimentos morais, religiosos, culturais ou comunitários. Mas no caso do Império Romano isso deu origem a um eremita chamado Bento de Núrsia. Foi graças à reacção de São Bento que a primeira rede de mosteiros se difundiu pela Europa.
Acredito que é nos tempos mais adversos que surgem aqueles, que contrariando o espírito do mundo, o podem reinventar. É essa, quase invariavelmente, a história dos grandes Santos.
Em “Católico Menino Manco”, canção derradeira de “Os Perdedores”, regressamos a uma infância passada “numa pequena cidade do Norte de Portugal”. Lugar onde, entre o best of dos Rolling Stones e as páginas de “Meu Pé de Laranja Lima”, parece ter surgido um catolicismo algo travesso, num “território encravado, geografia de forças, entre o Céu e Las Vegas”. Que papel tem a religião na sua vida, e porque decidiu trazê-la, de forma tão confessa, para dentro deste disco tão pessoal?
A Religião não tem um papel na minha vida, como a minha profissão tem um papel na minha vida ou o meu interesse por Cinema ou Literatura ou cavalos ou genealogia ou skates têm um papel na minha vida. Não é algo que arrume numa prateleira. Ela a própria prateleira. Ela é o papel. Ela é a Vida. Seria por isso uma anomalia que a minha fé não fosse detectável na minha obra autoral, como uma raposa que se deixa domesticar ou uma chuva que não molha. Um contra-senso.
O meu catolicismo está presente em todos os meus discos, não na medida em que são discos católicos, mas na medida em que são discos de um músico católico.

No tema de abertura, partilha com o seu filho algumas memórias e perdas, como o videoclube onde se descobriam preciosidades como “O Meu Tio” e “Os Marginais”, a bela farinheira vendida na mercearia da Senhora Beatriz, as camisas do avô com dedo de alfaiate, as tardes passadas – “de bolsos lisos” – na loja de discos Orfeu ou o desaparecimento de instituições cinéfilas como o King, o Monumental ou o Londres. A solução encontrada para tamanha perda parece ser o esvaziamento, assumindo que é necessária alguma perda de memória para seguir em frente. Pegando na pergunta que o seu filho coloca: E agora Manuel?
Pelo contrário, a memória é tudo! É ela que nos guarda e defende da tirania. É escudo, arquivo que nos garante a liberdade.
O sentido do esvaziamento que é cantado nesses versos é de outra ordem: é o do desprezo pelas coisas do mundo, da indiferença espiritual pelo transitório, do abandono das paixões da alma, da negação de nós próprios como única maneira de salvação. Agora é isso. E depois também.












Sem Comentários