Se, no continente europeu, há escritor vivo que já merecia ter um Nobel a enfeitar uma das suas prateleiras, ele é sem dúvida Mr. Ian McEwan – em tempos já quase ancestrais carinhosamente tratado por Ian Macabro. A verdade é que McEwan é um dos mais subversivos, inventivos e surpreendentes escritores, que expõe as fragilidades humanas, sejam elas individuais ou colectivas, num livro onde pairam as alterações climáticas – “Solar” -, se vive o medo do pós 11 de Setembro – “Sábado” -, se sente o peso da culpa – “Expiação” -, se receia uma noite de núpcias – “Na Praia de Chesil” -, se brinca ao mundo dos espiões – “Mel” – ou, no caso deste “Máquinas Como Eu” (Gradiva, 2019), se tenta responder a uma questão fundamental mas aparentemente difícil de dar troco: afinal, o que nos torna humanos? É um cruzamento entre um livro de ficção científica e um romance sobre um falso triângulo amoroso, mais um exemplo de como McEwan subverte géneros e experimenta variações, conseguindo sempre criar no leitor uma inquietação onde não faltam os elementos surpresa.
Estamos numa Londres alternativa nos idos anos 1980, num mundo onde não existiu a bomba em Hiroshima, os Beatles se voltaram a juntar 17 anos depois de um falso ponto final, Carter venceu Reagan do outro lado do Atlântico e Kennedy não foi assassinado, a Inglaterra saiu da União Europeia sem referendo e as Falkland Islands se tornaram Las Malvinas. O protagonista maior deste romance dá pelo nome de Charlie, um tipo com uma vida incerta, avesso a um trabalho a tempo inteiro, que está apaixonado por Miranda, uma rapariga que carrega um segredo às costas mais pesado do que uma mochila em vésperas de partir para um inter-rail.
Quando se apanha com uma maquia considerável de dinheiro nas mãos, Charlie decide comprar um Adão por 86 mil libras, um dos 12 exemplares do primeiro lote de seres humanos sintéticos, construindo a personalidade deste a meias com Miranda. Segundo a publicidade, Adão seria “uma companhia, um parceiro intelectual, uma amigo e uma espécie de faz-tudo, desde lavar loiça e fazer compras a «pensar»“.
 Ian McEwan faz-nos olhar com muita atenção para este quase-humano, belo como um deus grego, com a força de um Hércules e a inteligência de quem consegue armazenar conhecimento à velocidade da luz. E, também, um sentido de verdade que parece incompreensível ao ser humano, que viaja sem disciplina entre as dimensões da vingança e do estado de direito.
Ian McEwan faz-nos olhar com muita atenção para este quase-humano, belo como um deus grego, com a força de um Hércules e a inteligência de quem consegue armazenar conhecimento à velocidade da luz. E, também, um sentido de verdade que parece incompreensível ao ser humano, que viaja sem disciplina entre as dimensões da vingança e do estado de direito.
Neste mundo e apesar da realidade ficcionada por McEwan, as coisas não são assim tão diferentes da nossa linha temporal: “Estava tudo a aumentar – a esperança e o desespero, a infelicidade, o tédio e as oportunidades. Havia mais de tudo. Era um tempo de plenitude“.
Criando um falso, amovível e muito instável triângulo amoroso, McEwan provoca o leitor lançando-lhe questões delicadas sobre o que é isso de ser humano, deixando no ar a hipótese de sermos, nós próprios, máquinas implacáveis, incapazes de entender um coração humano, aguardando pacientemente pela falência do corpo. Mais um capítulo brilhante da obra de Ian McEwan.

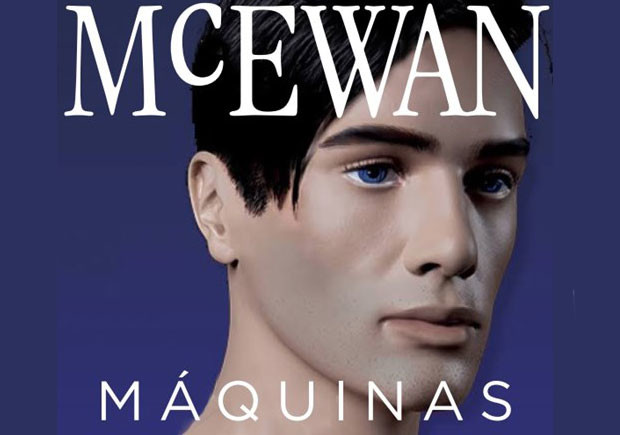









Sem Comentários