As mulheres de capucho vermelho suscetíveis aos desígnios dos lobos em “The Handmaid’s Tale” rapidamente associaram a canadiana Margaret Atwood ao movimento feminista, principalmente após a releitura televisiva do livro (de 1985), lançada em 2017, entre o furacão #metoo e a eleição do (também) misógino Trump.
O viés feminista, embora não deixe de ser verdade, de certa forma restringe o espectro da obra da escritora. A publicação de “Chamavam-lhe Grace” (Bertrand Editora, 2018) comprova que, para além do embate entre os géneros, Margaret Atwood preocupa-se também em abordar a velha, mas não fora de moda, luta de classes.
Antes da narrativa sobre homens versus mulheres, História de uma Serva (Bertrand) e “Chamavam-lhe Grace” tratam da violenta e promíscua relação entre patrões e servos, uma rotina sadomasoquista que se perpetua mesmo quando o papel tradicionalmente masculino do patronato é vivido por uma personagem feminina.
O livro (originalmente de 1996) é baseado na história verídica da imigrante irlandesa Grace, uma serva condenada pelo assassinato do patrão e da governanta na casa onde trabalhava, num inóspito rincão de um Canadá com alma colonial do século XIX, embora pouco ou quase nada se lembre do que ocorreu no dia do duplo homicídio.
A trama orbita na relação entre Grace e o jovem médico Simon Jordan, um psicanalista freudiano antes do freudismo, empenhado em descobrir a verdade sobre a culpa ou inocência da serva, tentando aceder-lhe as memórias do crime através do inconsciente (embora logo perceba-se que o doutor Jordan é quem deveria deitar-se no divã).
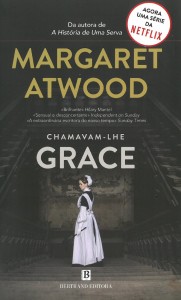 Numa época em que era mais fácil crer na existência de fantasmas do que na do inconsciente, o doutor Jordan é influenciado por um grupo de «reformadores» de que Grace fora levada a cometer os crimes influenciada pelo espírito de uma antiga serva, como se a origem de todo mal fosse, mesmo, o espírito de classe.
Numa época em que era mais fácil crer na existência de fantasmas do que na do inconsciente, o doutor Jordan é influenciado por um grupo de «reformadores» de que Grace fora levada a cometer os crimes influenciada pelo espírito de uma antiga serva, como se a origem de todo mal fosse, mesmo, o espírito de classe.
Como em “The Handmaid’s Tale”, o cenário-fetiche é o quarto da serva, um misto de cela e alcova, descrito em seus pormenores espartanos e claustrofóbicos, mas que, apesar do frio e do desconforto, é para onde os aristocráticos patrões rumam à noite, a fugirem dos corpos e almas das esposas, enregelados como o inverno canadiano.
Nas reminiscências terapêuticas de Grace, os quartos das casas por onde passou em quase nada diferem da cela onde ela cumpre a pena perpétua, assim como as investidas dos carcereiros assemelham-se ao assédio dos patrões e de seus herdeiros, como se distinção entre liberdade e prisão fosse um pormenor semântico.
“Chamavam-lhe Grace” repete a estrutura narrativa de “Histórias de uma Serva” ao recorrer as memórias de uma serviçal para, mais uma vez, mostrar-nos que a liberdade é uma prerrogativa das castas superiores e quem sofre o pão que o patrão amassou na base da pirâmide só encontra a solidariedade entre os seus.
Por Margaret Atwood eleger o tom biográfico em vez do ficcional, o livro termina num anticlímax. O que não compromete o intuito da nossa marxista favorita em mostrar que a solidariedade é uma questão de classe, não de género, provando no melhor estilo hobbesiano que a mulher também pode ser a loba da própria mulher.











1 Commentário
Alvaro Filho, excelente e convidativa análise. De olho no livro!