Assina no BI como Daniel Mallory, mas é com o pseudónimo de A. J. Finn que decidiu publicar “A Mulher à Janela” (Editorial Presença, 2018), o livro de estreia que foi já vendido para 39 países e está a ser adaptado ao cinema pela produtora Fox.
A trama deste thriller gira à volta de Anna Fox, uma antiga médica que sofre de stress pós-traumático e de agorafobia, alguém que não sai de casa há praticamente dez meses. Ainda assim, vai-se entretendo das mais variadas maneiras: espreita a vizinhança que não tem por hábito usar cortinados ou fechar as janelas – tem mesmo “um disco rígido a abarrotar de imagens roubadas” -, recebe massagens ao domicílio, faz compras pela Internet, subsiste de refeições compostas quase exclusivamente por álcool e comprimidos e assiste a filmes como quem bebe copos de água num dia de calor, sobretudo aqueles mais negros onde Hitchcock, Gene Tierney e Jimmy Stewart são reis.
Para além disso dá também consultas e conselhos on-line sob o pseudónimo de thedoctorism, num fórum habitado por gente que, como ela, vê o mundo exterior como uma ameaça, um lugar dificilmente alcançável: “Rato, teclado, Google, telemóvel. São estas as minhas ferramentas de trabalho”.
Quando os Russells se mudam para a vizinhança, Anna projecta neles a família que deixou de ter, agora que está divorciada do marido e longe da filha, mas quando um grita ecoa na noite acredita ter testemunhado o assassinato da mulher do casal, ainda que não tenha visto quem o cometeu, apenas uma mulher ensanguentada que a tinha visitado poucas horas antes. Mas a verdade é que no dia seguinte não parece faltar ninguém, e quando Anna diz que aquela não Jane Russell, isto depois de ter sido encontrada a vaguear por um relvado, todos começam a pôr em causa a sua sanidade, até a própria Anna que, entre garrafas de Merlot, já duvida de si própria.
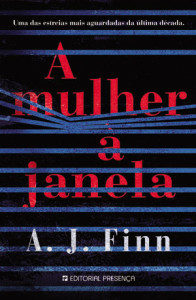 O leitor, esse, acredita como Anna que há algo de estranho, ela que, apesar de não estar no activo como psicóloga, mantém um olhar arguto e muito certeiro sobre a dimensão física e psicológica do ser humano, como quando descreve a mulher que julga ter sido morta. Um pouco ao estilo do Marlowe de Chadler mas em versão menos noir: “É aquilo que Ed, em tom aprovador, chamaria uma mulher madura: ancas e lábios cheios, peito generoso, pele de pêssego, expressão alegre, olhos de um azul parecido com a chama do gás natural. Veste calças de ganga índigo, um casaco de malha preto com decote redondo, e usa um pingente prata ao peito. Trinta e muitos, quer-me parecer. Devia ser uma criança quando teve a criança dela”.
O leitor, esse, acredita como Anna que há algo de estranho, ela que, apesar de não estar no activo como psicóloga, mantém um olhar arguto e muito certeiro sobre a dimensão física e psicológica do ser humano, como quando descreve a mulher que julga ter sido morta. Um pouco ao estilo do Marlowe de Chadler mas em versão menos noir: “É aquilo que Ed, em tom aprovador, chamaria uma mulher madura: ancas e lábios cheios, peito generoso, pele de pêssego, expressão alegre, olhos de um azul parecido com a chama do gás natural. Veste calças de ganga índigo, um casaco de malha preto com decote redondo, e usa um pingente prata ao peito. Trinta e muitos, quer-me parecer. Devia ser uma criança quando teve a criança dela”.
Não faltam suspeitos, desde o marido de Jane Russell – ou de quem quer que seja a sua mulher -, o inquilino de Anna ou um outro vizinho e, mesmo toldada por uma dose sempre bem aviada e desregulada de álcool e comprimidos, Anna continua com uma intuição de fazer inveja a muito bom e mau detective. Ela que, a certa altura, serve um magnífico auto-retrato em modo de diagnóstico, num livro que, apesar de ter algumas pontas que se atam demasiado cedo, mantém a adrenalina a bombar até muito perto da última página, deixando em lume brando a eterna questão: “Quem sabe o que se passa realmente numa família?”.
“Síndrome de encarceramento. As causas incluem o acidente vascular cerebral, traumatismo craniano, esclerose múltipla, até envenenamento. É uma condição neurológica ou, por outras palavras, não tem uma origem psicológica. No entanto, aqui estou eu feita reclusa, com portas fechadas, janelas fechadas e medo da luz, enquanto uma mulher é assassinada no outro lado da rua e ninguém parece reparar, ou saber. Tirando eu, claro, encharcada em álcool, afastada da família e a foder o meu inquilino. Uma anedota aos olhos da polícia. Um caso bicudo para o meu psiquiatra. Um caso de piedade para a minha fisioterapeuta. Um caso perdido. Nen heroína, nem detective. Sou uma prisioneira no meu mundo. E fora dele.”











Sem Comentários