Comecemos pelo fim, mas não pelo fim do romance de Oscar Wilde, “O Retrato de Dorian Gray” (Guerra & Paz, 2016). Não vos damos essa desfeita. Se já conhecem (e as probabilidades são altíssimas), deixem-se estar à mesma. Sejamos directos: o romance foi esmiuçado para suportar uma posterior acusação a Oscar Wilde por “sodomia e indecência”. Nas páginas finais desta edição pode ler-se a transcrição do interrogatório ao autor, com todo o seu carácter à tona, de convicções fortes e humor acutilante.
Pelas perguntas moralistas e as respostas estilo “isto é um não-assunto” de Wilde, ficamos esclarecidos que o subtexto homossexual em “O Retrato de Dorian Gray” não é fruto da nossa imaginação. Dirão alguns, “o que é que isso interessa? É evidente e igualmente um não-assunto”. Citando Seinfeld, “não que haja algo de errado com isso”. De facto, se exceptuarmos o contexto social do autor e ser forçosamente necessário recorrer a torneados literários para abordar um assunto concreto e objectivo que hoje em dia já vai podendo ter o privilégio de estar despido de qualquer pudor, existem coisas muito mais interessantes a serem analisadas na obra-prima de Oscar Wilde.
Agora, para algo completamente diferente. Ou talvez não, mas é feito por Wilde de maneira intocável. “O Retrato de Dorian Gray” é um livro com antes e depois. Numa primeira parte, impera um reforço da vaidade pelo elogio tão absurdo que chega a desafiar o intelecto do leitor, e uma ingenuidade profunda da maior parte dos personagens que são chamados a intervir sobre envelhecer e a velhice, ou sobre o amor. Aqui, a excepção à regra é o eloquente Henry Wotton, que, de cada vez que abre a boca, oferece-nos um tratado ou manifesto filosófico sobre a arte, o belo na base da estética, as mulheres e os homens, a vida, a sociedade, tudo e todos. Consideremos Henry Wotton como peça vital na profundidade, geradora de reflexão, da obra de Wilde. Digamos que o autor nem sempre tinha razão (aforismos valem o que valem) – ao contrário do que afirmava Jorge Luis Borges -, mas o seu pensamento sobre a arte mantém-se, nos pontos essenciais, tão válido como quando concebeu a marcante abertura da obra, que paira sobre as restantes páginas.
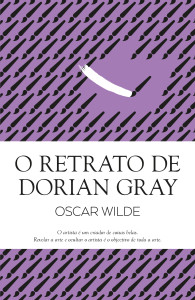 Na segunda parte (não se trata de uma divisão oficial de Wilde, já que os capítulos se vão sucedendo normalmente) temos uma viragem de meio círculo, algures entre o romance de género (thrillers, que, regra geral, tornam o mistério em torno de gente que mata gente uma fórmula vencedora) e um tributo a Fausto, de Goethe. Não há recompensa maior para um leitor que a passagem em que Dorian Gray, já envelhecido, mas que ainda assim conserva uma aparência estranhamente jovem e de beleza hipnótica, revela a Basil Hallward (autor do retrato que gera tanta discussão sobre a arte e a beleza e a velhice e a inspiração de um artista que teima em acreditar em musas) a pintura que este concebera e que se transfigurara na mais pura representação do mal. É das mais monumentais demonstrações do poder aliciante da escrita através da construção genial de um capítulo, e que reforça a vontade de avançar no romance até conclui-lo.
Na segunda parte (não se trata de uma divisão oficial de Wilde, já que os capítulos se vão sucedendo normalmente) temos uma viragem de meio círculo, algures entre o romance de género (thrillers, que, regra geral, tornam o mistério em torno de gente que mata gente uma fórmula vencedora) e um tributo a Fausto, de Goethe. Não há recompensa maior para um leitor que a passagem em que Dorian Gray, já envelhecido, mas que ainda assim conserva uma aparência estranhamente jovem e de beleza hipnótica, revela a Basil Hallward (autor do retrato que gera tanta discussão sobre a arte e a beleza e a velhice e a inspiração de um artista que teima em acreditar em musas) a pintura que este concebera e que se transfigurara na mais pura representação do mal. É das mais monumentais demonstrações do poder aliciante da escrita através da construção genial de um capítulo, e que reforça a vontade de avançar no romance até conclui-lo.
A tarefa de escrever sobre Dorian Gray, como que chegando por último, é ingrata. Mais importante que qualquer polémica (ou não-assunto) com que demos mote a este texto, e como foi demonstrado, esperamos, há na obra muito mais que a preferência sexual de alguns dos personagens ou do próprio autor. É o arquétipo do romance popular, que ganhará corpo até ser uma máquina bem oleada e sem alma, que é precisamente algo que não falta a “O Retrato de Dorian Gray”.











Sem Comentários